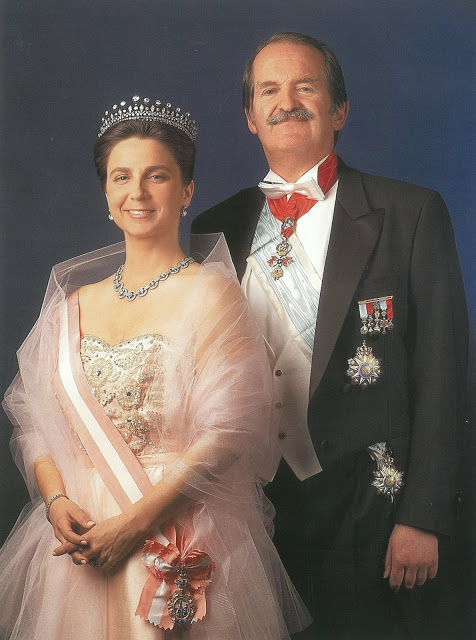Tinha
fama de grande monteiro o castelão. Mal o dia despontava, saltava logo no
cavalo, e a galope, por sarças e estevais, por montes e campinas, no meio dos
caçadores, entre risos, juras e brados, corria até à noite. Uma tarde, na
primavera, levantou-se-lhe um veado quase nas terras de um colono, e a despeito
das súplicas do velho, cães e corcéis, salvando valados, e calcando e pateando,
arrasaram em minutos o trabalho de meses. Sobre as vozerias, latidos, e
relinchos soavam, sem cessar, os gritos do cavaleiro:
-
Avante! Sus! Aboca!
Tocavam
buzinas, estalavam látegos, o tropel, enovelado, desapareceu atrás da pista.
Garcia do Marnel, o dono do campo, fora o melhor besteiro dos sítios. O mais rijo
arco dobrava-se, como vime, em suas mãos, e a seta da sua aljava atravessara
sempre o alvo. De avós a netos esta robusta e laboriosa raça lançara raízes profundas
no solo, remido pelo seu braço. Os mais fundos afectos prendiam-na à terra rota
e lavrada com o suor do trabalho. Na choupana do pequeno casal tinham-lhe
nascido viçosas as primeiras esperanças, tinham-lhe alvorecido os castos amores
da esposa e dos filhos. No altar da igreja haviam sido abençoadas as promessas
de mútua ternura; e agora debaixo da cúpula frondosa dos álamos, à sua porta, o
avô no inverno dos anos, sentia-se renascer nas graças infantis da neta, mimosa
e única vergôntea, que sobrevivia dos ramos decepados pela morte no velho
tronco da família. Garcia amava tudo isto com o ardor calado, mas intenso das
almas viris, retemperadas pelo infortúnio.
A
pobreza honrada nunca lhe curvara a cabeça, nem o peso da enxada lhe
desfalecera o braço. A dor, ferindo-o três vezes no mais vivo do coração, a dor
mesmo não lhe prostrara o ânimo. A esposa, por tantos anos alegria e conforto
de suas fadigas, tinha-o deixado a meio caminho da vida para ir esperá-lo na
mansão de paz. Dois filhos, amparo da sua velhice, orgulho da sua alma,
ceifados em flor seguiram a mãe, enquanto o ancião desgraçado, só e de joelhos,
não via a seu lado no desterro da vida, ermo de consolações, senão a infância
frágil e graciosa de Silvaninha, duas vezes filha, porque duas vezes era o sangue
do seu sangue. Inclinado sobre três túmulos, e trazendo sempre diante de si as
sombras da morte, converteu-se-lhe a ternura, com que amava a neta, em um
extremo louco e quase delirante. Só esta saudade, só este amor o prendia ainda
ao mundo, mas com tal encanto, que muitas vezes pedira a Deus que lhe dilatasse
os dias para não se unir aos que o chamavam do céu, senão depois de a ver
mulher e feliz.
Quando
Soeiro Lopes lhe pisou aos pés dos cavalos os frutos de um ano, o sangue do
velho, remoçado pela ira, pulou nas veias; as faces cavadas coraram de súbito,
e os olhos despediram dois relâmpagos. Saindo ao encontro do cavaleiro, a voz e
o corpo tremiam, mas não de medo.
Aquele
campo era o dote da neta, e só por causa dela é que suportava o peso aborrecido
de setenta anos de fadigas.
-
Senhor! Senhor! – dizia ele correndo e clamando. – Tendes o atalho da esquerda!
Ruim caçada contra um velho e uma donzela!
O
rico-homem não respondeu. As matilhas e os cavalos, precipitando-se, partiam à
roda dele, envoltos em nuvens de pó, e o aflito lavrador, de pé e coberto,
tinha lançado mão das rédeas do corcel.
Um
brado rouco denunciou a raiva do senhor. Depois o látego, silvando, cingiu o
corpo do velho, enquanto o ginete fogoso empinando-se-lhe ameaçou o peito com
as patas.
-
Fora! – rugiu o cavaleiro. – Eis a paga do conselho!
Garcia
desviou-se quase cego de dor, e Soeiro, cravando as esporas nos ilhais, voou à
rédea larga por cima das hortas e searas, bradando:
-
Sus! Aboca!
O
açoute do infamante não cortou o corpo, cortou a alma ao desgraçado. Recuando
para a porta, como o tigre, e medindo a distância com as pupilas inflamadas,
pôs os olhos com ânsia no arco e na aljava. Um rugido surdo expirava ao mesmo
tempo à flor dos lábios. A vida do homem orgulhoso e mau estava à mercê daquele
arco. Tomou-o e encurvando-o ajustou a seta. O que no íntimo peito diziam o
desespero e a cólera era medonho. O rosto não o encobria. Ao apontar o tiro a
vista ardente elevou-se ao céu. Pedia perdão, ou auxílio?
De
repente baixou-a magoada sobre a casinha humilde. Uma voz fresca e melodiosa
cantava dentro. Duas lágrimas rebentaram então dos olhos secos do velho; os
braços descaíram. Quis vencer-te e resistir, não pôde. O arco fugiu-lhe das
mãos, e a boca murmurou:
-
Fora matá-la também a ela!
Enxugando
depois as pálpebras entregou a Deus o castigo do opressor.
Mas
a desgraça entrara no seu campo com Soeiro Lopes.
O
mordomo do castelo veio depois, e consumou a ruína. Desde que fora aviltado,
Garcia não parecia o mesmo homem. A ferida oculta minava-o. Falecia-lhe a alma
e com ela os brios para o trabalho. Os vizinhos, acudindo ao choro da neta,
vieram encontra-lo morto debaixo de uma oliveira plantada pelo mais novo dos
filhos. A terra, dote da pobre órfã, confiscada, caiu nas mãos de um sobrinho
do mordomo, e Silvaninha, sem parentes, e protectores, teria morrido de frio e
de fome se lhe não valesse a caridade dos amigos do besteiro. Um deu-lhe a casa
e sustento; outro vestia-a; e muitos, cativos de sua gentileza, socorreram-na,
cada qual com o que podia. No entanto crescia a donzela em idade e formosura;
mas à medida que os anos corriam, o rosto pálido e os olhos verdes
entristeciam-se. Muitas vezes deslizavam-se-lhe pelas faces as lágrimas e não
as entendia. È que o pão da esmola, mesmo dado com amor, sempre trava na boca do
infeliz! Ao declinar o dia, olhando para o tecto da casinha, de que fora
deserdada, apertava-se-lhe o coração por modo tal, que tinha pena de viver, e
sentia saudades da sepultura, onde o seu avô descansava, onde todos os seus
dormiam!
IV
Sete
anos eram passados desde a tarde em que os moradores de Algouço tinham lançado
sobre o corpo de Garcia de Marnel os últimos punhados de terra. Soeiro Lopes,
nesse intervalo, três vezes casado, e outras tantas viúvo, cada vez se havia
feito mais áspero e cruel.
Mal
raiva a manhã as buzinas acordavam logo as solidões. Assim que a noite se
fechava, as frestas pontiagudas da torre de menagem, iluminando-se,
reverberavam o clarão das tochas do
festim. Os gritos, as risadas, as blasfémias da alegria ébria espantavam os que
vinham perto do castelo. Os vícios do senhor avivaram-se com os anos. Os
deleites pereciam-lhe mais doces regados de lágrimas e de sangue. O abutre já
não se empolgava só a vida e dos bens dos vilãos; abrasado em ardor impuro
cevava a sensualidade na honra das filhas da aldeia. Rindo-se do temor de Deus,
arrastava sem piedade pelo lodo de amores infames a inocência das mais formosas
e a virtude das mais honestas. Um sorriso, um olhar dele, era como a fascinação
do réptil. Por onde passava, as flores mais frescas, e mais puras caíam
desmaiadas.
Silvana
contava dezasseis anos. Mimosa e esbelta, o cetim das faces realçava a terna
palidez, que revestia de tanto enlevo a brandura contemplativa dos olhos verdes
e transparentes, onde a alma retratava os mais suaves afectos. O vivo carmim
dos lábios abotoando as rosas da boca, redobrava os encantos ao sorriso meigo, tornando
irresistível o requebro e a graça virginal da fisionomia namorada. A voz,
fresca e melodiosa, insinuando-se no coração, era o seu maior atractivo.
Recolhida pela caridade da aldeia, e desvalida, para quem havia de levantar a
vista ou a quem podia confiar o segredo que fazia palpitar de esperança, quando
se mirava no cristal da fonte? Vê-la e cobiçá-la foi tudo a mesma coisa para o
rico homem. Ele, que a um aceno imperioso sujeitava as mais isentas, podia
supor acaso que Silvaninha lhe desse um não, fugindo a suas carícias? Mas às
primeiras palavras o rubor do pejo incendiou em chamas o rosto da donzela e nas
pupilas de esmeralda fuzilou a ira. Soltando as mãos, envergonhada e ofendida,
furtou-se às garras do açor. A raiva enlouqueceu o cavaleiro. Um juramento
saltou-lhe da boca por entre sorrisos lívidos.
-
Não serás esposa sem primeiro seres amante! Pedirás de joelhos o que hoje
enjeitas! Sei atalhar os rodeios à corça. Sei onde o golpe fere seguro!
Deus
do céu, compadecei-vos de Silvana! Ela mal o escutou. Trémula e sufocada não
suspendeu a carreira senão à porta da cabana onde morava a velha Aldonça,
conselho e consolação de toda a aldeia. As línguas maldizentes afirmavam que a
velha não era decrépita, nem mendiga, mas fada, e que sabia ler nos astros e
adivinhar nas águas. Contavam prodígios do seu poder! Alguns chegaram a
asseverar até, que ela e a serpente encantada tinham nascido irmãs, e se
juntavam em colóquio à meia-noite. Quando a donzela apareceu, Aldonça, sentada
em um penedo diante da porta, acabava de espiar a roca; viu-a e sorriu-se. Enrolou
depois a estriga, puxou o fio, e à medida que o fuso girava, e que a linha se
enrolava, meneava a cabeça, como se estivesse vendo, ou ouvindo, a muito longe
dos sentidos coisa do seu gosto.
-
Deus vos salve, filha! – exclamou por fim. – Sei o que vos traz assim
assustada. O açor cobiçou a rolinha? Havia de ser! Estava escrito lá em cima, e
o que há-de acontecer muita força tem. Conta-me tudo. O que te disse? O que lhe
respondeste?
Quando
Silvana terminou, redarguiu a velha:
-
Louvado Deus! Vem perto a hora e o dia. O destino pode mais que o homem. A
águia real já a estou vendo voar. Dentro em pouco temos grandes novidades,
filha! Apesar de agudas, as garras do açor não hão-de ferir-te. Vai daqui à
fonte da moura e dize que sim a quem lá encontrares. Não te demores. Donde se
não espera vem o remédio. Hás-de ser feliz!
Ditas
estas palavras, abismou-se em tão profundo cismar, que parecia morta. Não quis
saber mais a donzela. Voou à fonte com a fé viva dos quinze anos e da
esperança. Ao pé do primeiro álamo parou e tremeu. Não vira a serpente, nem a
corça encantada, mas vira um mancebo robusto e gentil, filho do mais abastado
cavaleiro vilão das cercanias. Porque lhe esmorece a ela de súbito a
vermelhidão das faces afrontadas da corrida? Porque lhe bateu o coração no
peito tão atropelado? Telo Vasques, o melhor besteiro depois da morte de Garcia
do Marnel, era o noivo que as raparigas das cinco aldeias vizinhas disputavam
com mais inveja. Debalde! A vista dele não se baixara para nenhuma, nem a sua
boca se abrira para dizer uma palavra terna à mais galante. Silvaninha fora a
sua primeira e única paixão. Combateu-a e calou-a por muito tempo, com receio
dos pais, mas por fim, não se podendo conter, decidiu-se, e veio ao lugar
pedir-lhe a mão. Ninguém sabia o segredo do mancebo senão Aldonça, porque dessa
nada se escondia. E a donzela?... Tinha-o adivinhado nos olhos que buscavam os
seus, e no próprio coração, que, alvoroçado, lhe dissera pela primeira vez o
que era amor. Quando parou, Silvana sentira mais, do que vira, que Telo estava
ali. Sem forças para se adiantar ou para retroceder, subiu-lhe às faces o rubor
em ondas, e a vista não ousou despegar-se do chão. O tremor convulso que a
agitava, fazia-lhe arfar o seio.
V
Telo
Vasques não estava menos enleado. Corou também, e a viveza natural dos olhos
pretos esmoreceu meio ofuscada pela sombra das pestanas. Encobrindo que a
esperava, quis saudar Silvana; mas a voz negou-se-lhe, e uma espécie de
deslumbramento turvou-lhe a vista. A mão suspensa, a cabeça inclinada, o gesto
cheio de timidez retratavam a vontade presa do enlevo sem força para
dissimular, e ainda menos para combater. Assim ficaram por minutos. Imóveis,
calados, contemplando-se, e falando só com o coração. A felicidade era tão
grande, que não achavam termos que a pintassem. Quem encostasse a mão ao peito
do robusto besteiro, sentindo-o pulsar agitado, logo conhecia que o amor o
fizera seu. Quem escutasse o palpitar ansioso do seio de Silvaninha não
precisava perguntar-lhe se também amava!
Em
redor deles tudo era paz e serenidade. Por cima o céu puro recortando-se por
entre a cúpula frondosa das árvores. Ao lado a água, sussurrando preguiçosa,
saltava em arroios mansos, ou sumia-se nas relvas que aveludavam o chão. Mais
longe, a pequena levada afundava-se com estrépito pelas fendas musgosas dos
penhascos debruçados sobre o vale. Em baixo, no fim da encosta, uma verdadeira
alcatifa de hortos, de pomares, e de campos viçosos, contrastando com o
arvoredo sombrio, que entristecia ao largo a paisagem. Depois, a perder de
vista, a cor árida e melancólica das charnecas desatando-se até aos cabeços da
serra, cujos cimos o sol dourava despedindo-se entre nuvens. Uma brisa louca,
mas amena, doidejava na campina, ramalhando as folhas, brincando com os
arbustos, empolando e acamando as ervas dos prados. Os rouxinóis nas moitas
rompiam em trinados os deliciosos gorjeios. A cigarra casava a voz estrídula
com o coaxar das rãs. As sombras, delgadas ainda, começavam a fechar-se sobre o
vale, enquanto os raios do dia amorteciam a pouco e pouco no viso dos outeiros,
escurecendo o fino azul do firmamento e o verde-fresco das árvores e plantas.
Quando
a ternura mútua os deixou respirar, a donzela, volvendo em si primeiro, e
desabotoando o meigo sorriso, ergueu o dedo em ar de travessa ameaça e disse:
-
Vós aqui, Telo! A esta hora, em sítio por onde poucos passam! Que quereis que
digam da pobre Silvana, que não tem senão o seu nome?
A
voz era queixosa, e não irada. O timbre harmonioso avivou no peito do mancebo o
ardor da paixão. Depois os olhos sorriam animados de malícia tão inocente, que
Telo leu neles mais do que esperança, leu amor. De repente ficou outro.
Pegando-lhe na mão, e beijando-a, a voz soltou-se-lhe, e a vista, cobrando
valor na vista dela, tornou-se tão eloquente, tão ávida de ternura, que ela
baixou outra vez as pálpebras.
-
Silvana! – exclamou arrebatado. – Quis Deus que nos amássemos, e que um não
pudesse viver sem o outro. Meus pais consentem. Dás-me o sim?
O
júbilo transformou a fisionomia da donzela. Depois o carmim das faces sumiu-se,
e as lindas pupilas, um momento radiosas, molhando-se de lágrimas, lançaram
sobre o rosto as sombras da mais resignada tristeza. Sem retirar, ou entregar a
mão, que o mancebo prendia nas suas, a neta de Garcia do Marnel, esquecido o
conselho de Aldonça, respondeu singelamente:
-
Telo, não vos direi já o sim; não quero arrepender-me. O filho de Aires
Vasques, do mais abastado morador da terra de Miranda, não deve escolher a sua
noiva entre as donzelas mais pobres e desvalidas de Algouço. Amo. Porque hei-de
nega-lo? Mas pelo muito amor é que receio aceitar. O que há-de trazer em dote a
órfã sustentada pela caridade dos vizinhos senão lágrimas e saudades daquele
chão, onde dorme sem vingança, porque ninguém lha deu, ou pode dar, o velho que
duas vezes foi seu pai, e que por ela morreu de dor? Não, Telo! Não pode ser!
Falando
assim, trémula e consternada, mal reprimia o pranto. O mancebo admirava-a
silencioso. As lágrimas deslizando-se, os olhos que a dor fazia irresistíveis,
e a voz procurando encobrir com dissimulada firmeza a mágoa íntima, por tal
modo lhe realçavam a formosura, que o besteiro não sabia se era anjo, ou fada,
a que estava adorando ali cativo de mil atractivos. Atraindo-a, depois, com
ímpeto, e unindo-a ao peito, ele, o homem forte, o filho de uma raça leal e
rude, como o século em que vivia, sentiu rebentar o pranto, e não se
envergonhou de o deixar correr.
-
A tua vontade, Silvana, será a minha! – disse por fim. – Mas por amor te quero,
e não é justo que por amor te perca. O que vale dizer a boca não, se os olhos,
mau pesar teu, estão dizendo sim? Dizes que o dote que me trazes é lágrimas e
pobrezas? Nunca fui mais rico. Estas lágrimas piedosas da filha prometem venturas
ao marido. E a pureza desse coração é o teu maior tesouro. Ontem não podia
viver sem ti, hoje morria se te perdesse. Silvana!... Não mo escondas! O senhor
tentou-te de amores, e jurou vingar-se dos desprezos? Sossega! Deus será connosco.
O meu arco não erra. A seta vai sempre onde a mando!
Não
cedeu ainda a donzela, mas Telo não se enganara: o coração desmentia a boca.
Afinal deu o sim, cobriu o rosto, e acesa em pejo desapareceu como se toda a
aldeia a estivesse vendo. Ficou ajustado que no dia seguinte iria Telo ao solar
pedir licença a Soeiro Lopes. Os noivos sem ela não podiam receber-se na igreja
do Algouço, e Silvana desejava tanto que seus amores fossem abençoados, onde o
tinham sido os de seu pai e seu avô, que o besteiro não ousou contrariá-la.
Altos juízos de Deus! Mal previa o orgulhoso descendente dos senhores de
Biscaia que por causa dos olhos verdes de uma donzela pagaria todas as culpas
da sua geração, todos os crimes da sua vida.
VI
Era
domingo. Tudo repousava na aldeia. Sobre a tarde um cavaleiro, correndo a rédea
larga, subia a ladeira torcida por entre os penhascos que findava à porta do
castelo. Atrás, mas longe, uma vistosa quadrilha de monteiros, de guarda-cós
verde e cintos de couro, passou rindo e folgando, enquanto os moços de monte
sustinham das trelas as matilhas impacientes, cujos saltos e latidos formavam
condigno acompanhamento aos alaridos dos caçadores. No meio do préstito jovial
uma azémola conduzia atravessado em duas varas o corpo de um javardo, vítima enorme
e cerdosa sacrificada depois de aturada fadiga o renhido combate, segundo
atestavam os golpes, com que suas navalhadas presas tinham descosido os mais
valentes e fogosos cães.
Soavam
as buzinas a brava alegria das florestas, e o tropel ruidoso, trotando,
recordava as proezas dos sabujos mais atrevidos, e rezava, entre chufas e
galhofas, a oração fúnebre do pingue eremita, que todos haviam corrido sem
parar desde a madrugada até ao pôr do sol.
D.
Soeiro, que se apartara deles ao pé da fonte da moura, era o único sério e
silencioso. Contra o seu costume, a trompa de prata pendia muda, e nem o ardor
da carreira, nem as iras do javali, varado pelo seu venábulo, lhe arrancavam os
sons festivos, que era sempre o primeiro a levantar. Que mágoa, ou que remorso entristecia
o sr. de Algouço? Nas trevas, nas horas atormentadas das noites sem sono,
aparecera-lhe a visão terrível, com que na raça de Biscaia a sombra de Diogo
Lopes avisava a cabeça da família de estar próximo o dia dos últimos e tardios
arrependimentos? Ao pé da fonte apeou-se, e, com a cabeça entre as mãos,
alongou a vista até aos montes fronteiros. O olhar vago e perdido dizia que o
espírito não se achava ali. De repente rangeram e estalaram os ramos junto
dele, e do meio dos loureiros saiu uma figura. Ao ruído, o rico homem levou a
mão ao punho da espada, inculcando o sobressalto sem receio. O medo nunca
entrara naquele peito inacessível à piedade.
-
Quem és? O que buscas? – bradou irado, medindo com os olhos torvos o robusto e
esbelto mancebo, que de arco frouxo na mão, e frechas passadas no cinto, se lhe
descobria sùbitamente.
Este
não se alterou. Vendo perto de si o homem, que tantas lágrimas acusavam,
assomou-lhe às faces morenas um leve rubor e as pupilas negras faiscaram duas
chispas. Soeiro Lopes apertou com mais força os copos da espada.
-
Sou filho de Aires Vasques, o de Miranda, e a vós buscava!
A
firmeza do tom e a concisão da resposta desagradaram ao cavaleiro. Brilharam os
olhos mais sombrios, e um sorriso mau encrespou-lhe os beiços.
-
O que vem pedir o filho de Aires Vasques ao sr. de Algouço, fora do seu
castelo, neste lugar deserto?
A
ironia salpicava de escárnio as palavras pronunciadas com desprezo.
-
Venho dizer-vos – redarguiu o besteiro, áspero e frio – que vive em vossas
terras a donzela que há-de ser minha mulher.
-
Ah! Só isso?! E é bonita e moça a tua noiva? Por força a conheço então. Como se
chama?
Falando
assim, o tom e os modos de Soeiro estilavam tal veneno, que as fúrias do ciúme
se levantaram no peito do mancebo. Conteve-se, porém, e retorquiu:
-
A mais formosa da aldeia. É a Silvana do Marnel.
-
A Silvaninha? A pérola de Algouço? Dá-la a um javardo de Miranda?! Pões alto o
pensamento, vilão. Muito alto! Manjares de senhor não se dão a servos.
Foi
Deus, ou o anjo custódio, que suspendeu o braço a Telo? A mão procurou a seta
mais aguda no cinto, e os olhos chamejantes apontaram no peito do rico-homem o
lugar do tiro. O cavaleiro percebeu, mas disfarçou. Continuando a pungir o
mancebo com mofas, prosseguiu:
-
Sabes, Telo, que pelos olhos verdes de Silvaninha dera o meu melhor cavalo e o
melhor arnês, e que um beijo daquela boca pagaria o resgate de um barão? Cuida
o vilão que eu havia de enterrar na sua pocilga a rosa dos nossos sítios?
-
Senhor! – bradou o besteiro, trémulo de cólera e de ciúme.
-
Fora! – exclamou Soeiro Lopes, metendo o pé no estribo e sacudindo o látego no
ar. – Arreda! – ajuntou vendo-o adiantar direito e pálido, com mil ameaças nos
olhos e no gesto. – Arreda, ou por meu bisavô te juro, que tantas noites
dormirás na cisterna do meu castelo, que de lá te arranquem cego e doido!
-
Veremos! – articulou o besteiro, retesando o arco. – Só Deus sabe onde vós
dormireis hoje!
O
cavaleiro já tinha cravado esporas no corcel, e começara a levantar o galope,
quando lhe chegaram aos ouvidos estas palavras. Escutando-as para o cavalo de
repente, e voltando rijo sobre Telo, sem baixar a vista sobre ele, disse-lhe
rindo afrontosamente:
-
Vilão! Não hás-de ir queixoso, olha bem. No dia em que Silvana tecer de fios de
urtigas, nascidas na sepultura do avô, duas camisas para mim, dou licença que
se chame tua mulher. É uma joia por um ceitil! Uma das camisas será o meu
brinde de noivado, a outra desejo-a para me enterrar com ela no dia seguinte.
Até lá que não vos torne a ver a ambos!
A
esperança acabou de falecer no peito ao mancebo. Fez-se branco, fugiu-lhe a luz
da vista, e sentiu-se tão prostrado, como se o sangue se lhe esvaísse todo.
Quis falar e correr, mas os pés arraigavam-se ao chão. A mão inerte não se
erguia. A dor imensa tinha-lhe quase suspendido a vida. Quando volveu a si para
olhar em roda, avistou ao longe na planície o vulto do cavaleiro maldito, e
pareceu-lhe ouvir estalar ainda as risadas do seu escárnio. Telo elevou então
ao céu a vista toldada de lágrimas e caiu em um cismar profundo. Desceu a noite
sem ele dar por si; soprou o vento da serra nas árvores sem ele o sentir; e as
primeiras gotas de chuva, núncias da tempestade, orvalharam-lhe a cabeça nua,
sem o despertarem da amargura. Ao ribombo dos trovões é que acordou, e que
principiou a afastar-se com passos vagarosos do sítio onde o amor cercado de
ilusões lhe sorrira alegre, e onde deixava calcadas e desfeitas as melhores
esperanças da existência.
VI
-
O açor encontrará a águia. Sinto-a já voar! Não chores, Silvana, serás feliz.
Diz-to quem o sabe! Telo!... A frecha do teu arco pode descansar na aljava.
Esta noite, à meia-noite, ide ambos ao cemitério da igreja. Ajoelhai e rezai
sobre a sepultura de Garcia. Como as urtigas crescem e estão nela viçosas!
Quando sair o luar, Silvaninha, colhe-as a duas e duas, e traze-mas no regaço à
fonte da Moura. Véspera de S. João há-de torcer-se o fio. As duas camisas não
hão-de faltar. A semana que vem será a do noivado e a do enterro. Ouvis dobrar
o sino? A águia não tarda. Enxugai os olhos.
E
a velha Aldonça, dizendo isto, ria-se com aquele ar que fazia na feiticeira a
amiga de todos os aflitos.
D.
Soeiro pusera por condição, que só daria o sim, se a donzela lhe fiasse e
tecesse de urtigas da sepultura do avô duas camisas.
-
Queres acompanhar-me, Telo? – atalhou a donzela suspirando.
-
Porque não fugimos nós? – acudiu ele a meia voz.
-
Porque ninguém foge à sorte! – tornou a velha, erguendo-se e sustendo a mão
alva e breve de Silvana entre as suas. – Não vos demoreis. À meia-noite, ao
romper da lua, todos três na fonte da Moura!
Era
já escuro, e as estrelas começavam a cintilar. Suspirava a viração por entre as
folhas das árvores, que no cemitério cobriam de sombra as sepulturas. As relvas
altas ensurdeciam os passos. A rosa silvestre entrelaçava-se com as verbenas e
com os goivos. Ao lado da igreja, entre rosmaninhos, erguia-se uma cruz de pau;
tinha entalhado um arco no topo. Ali repousava de setenta anos de idade e de
fadigas o avô da donzela. Segundo afirmara Aldonça, uma seara de urtigas vestia
o chão. Como o pranto corre pelas faces de Silvana ajoelhada! Como a oração
sobe pura e fervorosa de seus lábios ao regaço dos anjos, que vão depor aos pés
do Senhor! Mais afastado, Telo, também de joelhos, orava com ardor; mas aquele
peito, menos brando, mistura com as preces vozes de vingança. Por fim
levantou-se a donzela, e beijando a terra onde o pó dos que amara se volvera ao
pó, principiou a cumprir as ordens de Aldonça. A duas e duas foi apanhando as
urtigas. Quando acabava chispou no outeiro mais próximo a labareda da primeira
fogueira, e soou na voz de bronze do sino o primeiro repique. A lua rompia
detrás da serra, e o seu clarão branco alumiava toda a campina. Era a hora
aprazada. O mancebo deu a mão a Silvana. Tinham ambos tantas coisas dentro de
alma, que nenhum falou em todo o caminho.
Quando
chegaram não viram senão uma serpente, fugindo por cima dos penhascos, uma
corsa branca pulando por entre as árvores. A velha Aldonça apareceu de repente
ao pé da fonte, e acenou-lhes. Recebendo das mãos da donzela as três regaçadas
de urtigas, banhou-as outras tantas vezes na água encantada, pronunciando
algumas palavras a meia voz. Passados minutos tirou-as do tanque reduzidas a
fêveras finas, como o fio que tece a aranha. Três dias decorreram. Em todos
eles não cessou de girar o fuso da velha.
No
quarto dia dobou-se a linha; no quinto meteram-se as meadas no tear.
Quando
a semana pendia só de poucas horas, Soeiro Lopes passou a cavalo pela choupana,
olhou, e viu Aldonça à porta, cosendo com Silvana uma tela tão branca e
transparente, que deslumbrava.
-
Guarde-vos Deus! – disse detendo-se. – Que estais cosendo com tanta pressa?
E
o cavaleiro não tirava a vista dos dedos afilados da donzela que voavam sobre a
costura.
-
Estamos cumprindo um voto! – redarguiu a velha, sem levantar a cabeça. – Aquela
é a camisa do noivado, esta é a camisa do enterro. Urtigas do cemitério nos
deram o fio, e boas fadas nos teceram o pano. Em três dias estarão acabadas e
em três dias veremos também a noiva no altar e o morto no caixão.
Ouvindo-a,
o rico-homem mudou de cor e largou as rédeas ao cavalo. A velha, vendo-o
correr, exclamou, meneando a cabeça:
-
Corre! Que mais corre o destino! Ao que há-de ser ninguém escapa!
VIII
Os
sinos do presbitério repicaram depois da missa. O povo acotovela-se à saída do
estreito portal, e mais de um moço airoso, de rosto bronzeado, distrai a vista
furtiva e faz corar de júbilo a donzela, cujos olhos cheios de reticências
recordam os juramentos da véspera. O ruído dos pés, o borborinho e os alaridos
das crianças, saltando pelo adro, animavam de ar festivo a cena popular.
Enquanto o Reitor, curvo e triste, se encaminha devagar para a sua morada,
estendendo a bênção pelos aldeões, Silvana, sempre pálida, ampara no braço
delicado o corpo de Aldonça. Os vilãos desbarretam-se diante delas, como diante
do pastor; as mulheres acodem a saudá-las; e os rapazes, suspendendo as
travessuras, tomam-nas por intercessoras de suas petições. Encostado a uma
oliveira antiga, Telo, de braços cruzados, e com o arco a tiracolo, não
despegava a vista namorada da neta de Garcia.
Mas
antes das duas trilharem o sítio onde ele as estava esperando, um homem de
estatura elevada, semblante jovial, e gestos impetuosos, apressando o passo,
adianta-se, e chega primeiro. É simples o seu trajo. Guarda-cós de ipre verde
desenha o corpo robusto, e a monteira do mesmo estofo, sem plumas, assenta com
desgarre fragueiro sobre os cabelos pretos, cujos anéis se debruçavam sobre o
cabeção da gola. Era de vilão o vestido, mas o garbo e o porte inculcavam
condição mais nobre. Nas pupilas inquietas, e por vezes desvairadas,
retratava-se a índole ardente, pronta na ira, fácil nos arrebatamentos.
As
sobrancelhas, densas e arqueadas, a nuvem que tolda a espaços a serenidade da
fisionomia, a par da tristeza, que lhe sobe em ondas rápidas ao semblante,
denunciando saudades íntimas e incuráveis, avivavam as feições de um carácter
afeito a dominar, de um coração ferido de golpe irreparável, de uma razão que
no combate das paixões nem sempre há-de conservar-se lúcida, resultado de
passados sofrimentos.
Afagando
com a mão direita as compridas barbas, e consertando com a esquerda o cinto, de
que pende a adaga e uma trompa, este homem, que não pode contar ainda quarenta
anos, e que entrara na igreja sem nenhum dos fiéis se lembrar de o ter visto
nunca, começou à saída a falar com uns e com outros, fazendo perguntas aos mais
velhos. Rompendo depois por entre o povo veio colocar-se no sítio, onde o
descobrimos diante de Aldonça e Silvana, tão próximo de Telo, que este não
perdeu palavra do que disse. Sem saber porquê, o besteiro, de ordinário cioso e
assomado, em lugar de se afrontar, estimou quase a ousadia do monteiro. Parecia
que um pressentimento oculto lhe insinuava que se decidia neste momento a sua
sorte. Era tão grande nele a tranquilidade de ânimo, como se a noiva adorada
estivesse debaixo da protecção daquele que duas vezes chamara pai. A velha
Aldonça, apenas divisara o hóspede, exclamou como rejuvenescida de repente:
-
Filha! Não to afirmei? A águia real saiu do ninho. A hora vem perto. Ouve o que
te disser, obedece ao que te mandar, suceda o que suceder. Muita fé em Deus e
na justiça de el-rei D. Pedro.
-
Não é a fé que me falta – redarguiu melancólica a donzela – é a esperança, mãe…
El-rei está longe e tão alto, que não podem vencer decerto metade do caminho as
queixas da órfã.
-
Quem sabe, donzela? – atalhou o monteiro, adiantando-se, e admirando a
formosura de Silvana.
Pegando-lhe
na mão, ajuntou:
-
El-rei D. Pedro, filha, vê e ouve de longe. Conta-me tuas mágoas.
Falando
assim, o tom da voz era brando. Telo, que o contemplava, sentiu renascer a
esperança, e insensìvelmente sossegou do maior cuidado. Ora pálida, ora corada,
a neta de Garcia narrava no entanto a morte dolorosa do avô, as lástimas da sua
infância, e os amores infames que a perseguiam. As palavras pintavam a sua
alma. Mais compadecida, do que vingativa, procurava atenuar as crueldades do
senhor. Quando terminou, o desconhecido, sorrindo-se, e soltando-lhe a mão,
disse:
-
Descansai! Está perto el-rei D. Pedro. É como se vos ouvisse. Mandai a Soeiro
Lopes a camisa da mortalha, não a pediu debalde! Se o cavaleiro for desleal, ou
se vos quiser tirar por força, enviai-me este sinal. Deus e el-rei serão
convosco!
Ao
mesmo tempo entregou-lhe a trompa de prata e virando-se para Telo,
acrescentava:
-
É o vosso noivo?... Merece-vos! Escolheste bem!... Não coreis, Silvana! Se o
besteiro for o que mostra, em pouco há-de falar-se dele em Miranda. Adeus! Não
vos esqueça!... O primeiro perigo, um recado e o sinal. O mais fica para mim.
Dito
isto o monteiro sumiu-se por entre as árvores, e Telo estava aos pés da noiva,
que Aldonça animava, anunciando-lhe próximo o termo de seus pesares.
IX
Quando
Telo, ao cair da tarde do outro dia, trepava a pé a ladeira do castelo de
Algouço, vinha descendo o mordomo, seguido de homens de armas escolhidos. O
mordomo era o cego executor da vontade de Soeiro Lopes; alma negra do senhor,
onde alcançara com o braço deixara sempre vestígios dolorosos. Passando pelo
besteiro de Miranda, que o aborrecia, o vílico (era o seu título naquele
tempo), não pôde conter o sorriso, rosnando por entre dentes: quantos vão que
não voltarão! O noivo de Silvana desprezou o riso, e continuou o caminho; mas à
porta despediram-no àsperamente, respondendo que Sua Mercê repousava, e que ninguém
o despertaria para dar audiência a um vilão. A princípio Telo pôde sopear a
ira; mas pouco e pouco a altercação irritou-o e levantou a voz. Soeiro Lopes
assomou de repente à porta. Inteirado do motivo da disputa, virou-se para o
besteiro e perguntou:
-
A que vens aqui?
-
Trazer o que mandaste e pedir o cumprimento da promessa! – redarguiu ele
friamente.
O
senhor empalideceu. Um estremecimento, que não soube vencer, sacudiu-lhe os
membros. Lembrou-se da tela alvíssima e transparente, que vira na choupana de
Aldonça, e tremeu pela primeira vez da sua vida. Depressa se recobrou e,
medindo o mancebo com indizível escárnio, replicou:
-
Pedi-te duas camisas fiadas e tecidas com os fios das urtigas da sepultura de
Garcia, uma para o teu noivado, outra para a minha mortalha. Palavra de
cavaleiro não quebra! Se cumpriste, não hei-de faltar. As camisas?!
-
Ei-las! – acudiu o besteiro. – Urtigas deram o fio e fadas teceram o pano.
Era
o mesmo que já lhe respondera Aldonça. A maravilhosa tela, que o noivo de Silvana
desdobrou diante de seus olhos, na finura admirável bem mostrava não ser obra
de mãos humanas. Pegando na mortalha, D. Soeiro tremia. Sobre o peito, em
letras cor de sangue, viu as iniciais do seu nome e pondo o estofo contra a
luz, retrataram-se-lhe as feições das três esposas que tinham passado ao túmulo
do seu leito.
-
Bem! – exclamou. – Silvana é tua se a achares. Quanto à mortalha… Veremos esta
noite quem a veste!
Não
esperou por mais o besteiro, e partiu, apressando o passo, caminho da choupana
de Aldonça. Um pressentimento vago advertia-o de perigo incerto. A tristeza
oprimia-lhe o peito; e todavia, a boa nova, que levava, devia alegrá-lo. A noite
fechou-se escura. O tempo tinha mudado. Rugindo no pinhal o vento arrancava por
entre as ramas das árvores gemidos lúgubres. No céu apagavam-se as estrelas
umas após outras debaixo do pesado toldo de nuvens, e a lua encobria-se de todo
por cima do último outeiro. Sem saber porquê, sentiu-se Telo desalentado. Ele,
o melhor caminheiro dos arredores, o besteiro mais destro dos contornos, deu
por si mais de uma vez arrastando os passos e tremendo. Quando chegou à
choupana, achou a casa erma e a porta arrombada, e acabou de crer que os
presságios não mentem. Bastava olhar para dentro para adivinhar uma cena
violenta. A lâmpada ardia ainda junto do lar, e a luz mortiça deixava ver os
escanhos partidos, os vasos de barro pisados, as arcas espedaçadas. O pobre
catre de Aldonça, despido de roupas, jazia em um feixe. O mancebo parou, e
debalde quis ligar ideias. O golpe inopinado tinha-lhe quebrado as forças. Nem
o ânimo, nem a razão se prestavam a ajudá-lo.
Fora
rapto? Fora vingança mais atroz? A mudez da cabana não respondia! Saltaram-lhe
então as lágrimas, e a dor foi tão penetrante que, a não se encostar, caíra
desfalecido. Ocorreram-lhe as palavras de Soeiro Lopes, e percebeu-as tarde.
Silvana tinha sido roubada pelos servos do castelo, e àquela hora entrava
talvez as portas do Alcácer, que para ela eram as portas do sepulcro. É tua se a achares! – dissera o
roubador. A quem iria Telo pedir justiça? Lutando com a agonia sentiu que ia
enlouquecer. Mas, louco, o que restava à donzela senão a morte depois da
infâmia? No auge da desesperação, erguendo as mãos, bradou atribulado:
-
Senhor! A vingança é mais vossa, do que minha! Não embainheis a espada da
justiça!
No
meio destas vozes pousou-lhe de leve a mão de uma mulher no ombro. Olhou. Viu
Aldonça. Um sinal imperioso atalhou em seus lábios o grito que iam soltar.
Guiando-o calada, a protectora de seus amores chegou a um lugar deserto, e
apontando para um cavalo ajaezado, preso ao tronco de uma árvore, disse-lhe
ràpidamente:
-
Monta!
O
besteiro obedeceu. Entregando-lhe então a trompa de prata, a velha ajuntou:
-
O mordomo de Soeiro Lopes entrou aqui e leva roubada a tua noiva. Corre, que
por tua felicidade corres, e não pares senão na vila de Miranda. Busca os paços
do conde e apeia-te. Se te perguntarem quem és, dize que procuras o senhor. Já
o viste. É o monteiro desta manhã. Dá-lhe a trompa, conta-lhe o sucedido e faze
o que te mandar. Antes de sol nado estaremos todos juntos outra vez. As duas
camisas terão cumprido o seu fado.
O
mancebo, atónito, viu-a desaparecer, e largando as rédeas, partiu direito à
vila.
X
Como
o Douro vai fundo e impetuoso! Como se arremessa irado contra os penedos do seu
leito! Que trovões rebramam as águas despenhadas em cascatas contra as penhas,
que lhe oprimem a fúria corrente! Como a noite se cobre de luto quase de
repente de minuto para minuto! Aos bramidos do vento responde o estampido
longínquo da tempestade. Os relâmpagos fuzilam sobre as iminências.
Lá
em cima, nos penhascos fragosos, que vila é aquela, cujas torres negras
estrelam vivas luzes pelas frestas pontiagudas? Seguindo a margem do rio, Telo
Vasques não sente fadiga; o brioso corcel devora a distância. Batia a hora de
se alçarem as levadiças, quando o mancebo atravessa pontes e estradas, enfia
ruas e vilas, e pára no terreiro, defronte dos paços do conde e da torre de
menagem. Apeia-se, e sobe os degraus a dois e dois até ao portal da primeira
sala. Os guardas intentam detê-lo; mas sem voltar a cabeça, e continuando,
responde:
-
Busco o senhor.
Ninguém
o suspende. De corredor em corredor, de aposento em aposento, chega à sala de
armas. Entre os cavaleiros, que passeiam, divisa o monteiro desconhecido com o
mesmo guarda-cós ainda. Grossas tochas em anéis de ferro iluminavam a vasta
quadra. Corpos de armas brunidas, achas, montantes, lanças a adagas
entrelaçadas em caprichosos ornatos enfeitam as colunas, cujos capitéis
lavrados sustentam os fechos da abóbada. O monteiro, apercebendo Telo,
encaminhou-se para ele. O mancebo vinha tão sufocado, que pôde apenas dobrar o
joelho e ofereceu-lhe a trompa. Foi preciso que ele sorrisse para o besteiro
narrar o sucesso, que o trazia àquela hora. Concluindo, o moço ergueu as mãos,
e com a vista inflamada bradou:
-
Levai-me aos pés de el-rei D. Pedro. Dizem que ele não conhece grandes, nem
pequenos. A donzela, que roubaram, é pura e santa como a mais pura e nobre de
vossas filhas. Não deixeis sem castigo o rico-homem por ela ter nascido no
berço de um vilão!
À
medida que o besteiro falava, a fisionomia do desconhecido mudava de aspecto.
Os olhos pretos dilatados chamejavam, e o semblante, rosado e jovial,
empalidecia, torvo de severidade. Arquejava-lhe o peito. O gesto infundia medo
até nos que se achavam distantes. Quando Telo pôs termo a suas queixas, e
levantou a vista, recuou assustado. A expressão dos olhos do seu protector era
terrível. Ensanguentados e delirantes mais se assemelhavam às pupilas
encadeadas do tigre, do que a olhar humano. A sua voz cheia, mas presa,
gaguejando, falava tão convulsa, que pouco se entendia. Adiantando-se, o
desconhecido clamou em grandes brados:
-
Lourenço Gonçalves! Acudi! Um rico-homem furtou a mais linda de minhas filhas!
O
brado, e a imensa cólera, revelam tudo ao mancebo. Lourenço Gonçalves era o
corregedor da corte. Ninguém ousaria chamá-lo assim, senão el-rei. Telo
prostrou-se cheio de esperança.
-
Segue-me! Afonso Madeira! O meu cavalo enfreado à porta! A minha capelina de
aço. Gonçalo Vasques de Góis, escrivão da Paridade! Chamai os desembargadores,
relatai-lhes o feito, e lavrai a sentença. Por alma de Inês de Castro!... Pelo
seu amor! – murmurou mais baixo. – Antes de nascer o sol haverá um criminoso de
menos no meu reino, e mais uma justiça de minhas mãos no livro das suas
crónicas!
Falando
assim enlaçava a capelina, calçava as luvas de gamo, e com o açoute cingido,
desprendia a acha de armas mais pesada.
O
besteiro seguiu sem proferir palavra. Os cavaleiros montavam, e uns após outros
galoparam para o alcançar. El-rei ia deixando atrás do cavalo o próprio Telo
Vasques, e cego de ira metia-se pelas terras de Algouço. Por cima desta
vertiginosa carreira a chuva caía em torrentes. A procela abria os céus em
clarões lívidos, desarraigando as árvores anosas. Quando D. Pedro assomava
diante da porta do castelo, um vulto surgiu, que tomou-lhe as rédeas,
convidando-o a apear-se. De um salto estava em terra e levantando a cabeça via
as frestas da torre iluminadas. O vulto travou-lhe do braço, e disse:
-
É ali!
-
Vamos! – redarguiu o príncipe.
E
seguiu-o sem desconfiança.
Uma
entrada falsa, além do fosso, cedeu à chave e ao impulso.
-
Ide agora e Deus seja convosco! – disse a mesma voz.
Ouvindo
vozes e risadas no andar superior, o amante de Inês de Castro subiu. No topo da
escada de caracol, a cena que se lhe representou excitou-lhe ainda mais a
cólera. Perderia o terror salutar do nome de Justiceiro se perdoasse aquele crime.
Era
espaçoso o aposento. Um lampadário alumiava parte dele; o resto mergulhava-se
em profunda escuridão. No centro da sala, em um leito, com as mãos ligadas,
jazia Silvaninha. Duas voltas de lenço sobre a boca até os ais lhe sufocavam!
Só os olhos, os lindos olhos, banhados em lágrimas pediam a Deus a morte,
remédio extremo da infâmia. Soeiro Lopes, defronte, sorria-se medindo com a
vista a queda lenta da areia duma ampulheta. A seu lado o vílico silencioso
corria os dados sobre a mesa. A tela da mortalha, fiada e tecida com as urtigas
do túmulo, estava nas mãos do cavaleiro, e suas palavras, irónicas como
punhais, atravessavam o peito da infeliz. Estranho ao remorso, o neto dos
senhores de Biscaia cevava na formosura cativa o furor dos zelos.
-
Porque choras, Silvana? Dera ontem o melhor arnês e o melhor cavalo por um
sorrir de teus olhos. Pedi-te amor e respondeste não. A tua prenda foi esta
mortalha! Que te acudam agora as fadas, que a teceram, e os anjos por que
chamavas! Brada pelo besteiro vilão, que preferiste ao rico-homem! Grita por
el-rei D. Pedro! Por forte que seja o seu braço, as portas chapeadas deste
castelo ainda são mais fortes. Em esta areia, que está por instantes, caindo
toda…
Faltou-lhe
a voz. A mão erguida do vílico deixou também rodar o último dado. Ao limiar
estava el-rei D. Pedro, e nos olhos dele brilhava um clarão terrível. A pesada
acha reluzia em suas mãos.
-
Traidor! – bradou o príncipe. – Mentes! O brado de D. Pedro quebra e rompe
todas as portas. Vais ver… Vilão! – ajuntou falando ao vílico. – Solta as mãos
e a boca a essa donzela. Ninguém se mova! Soeiro Lopes, conta bem os graus de
areia da tua ampulheta. É o tempo que te dou. Vais comparecer na presença de
Deus!
O
orgulho indómito do cavaleiro não cedeu. Empunhando a adaga, e posto que
pálido, sempre firme e seguro, voltou-se para D. Pedro e redarguiu:
-
Quem dá aqui ordens e ameaça? O verdugo de Pedro Coelho e de Álvares Gonçalves?
O rei carrasco, falso à sua alma e à alma de seu pai? Imaginas que farei como
os outros cavaleiros? Estou no meu solar, e quem entra de noite à má fé
chamo-lhe inimigo. Vílico! Aperta os laços da cativa. No alto e no baixo, irado
e pagado, não entrego o castelo senão a Deus. A mim, homens de armas!
-
Deus é justo! – clamou el-rei, cuja fúria não conhecia limites. – O matador de
três mulheres levanta-se contra o seu rei. O perseguidor cruel de donzelas
nega-me o preito e menagem. Bem! Morrerás como um vilão às mãos dos teus
vilãos. Não mancho em tal sangue o ferro da minha acha. Vilãos! – bradou
imperioso aos servos do senhor que tinham acudido. – Sou D. Pedro! Sou o rei!
Esse que aí está, rebelde o traidor, prendei-mo enquanto os meus não chegam!
A
presença e a voz do filho de Afonso IV infundia terror. Os homens de armas
temiam, mas não amavam Soeiro Lopes. A ordem foi cumprida. Depois de curta e
desesperada resistência, o cavaleiro ficou à mercê de el-rei.
-
Passai um laço na cadeia do lampadário, ponde um escanho para ele subir, e
cingi-lhe o nó na garganta! – prosseguiu o soberano indignado.
-
Sou rico-homem por foro de Espanha. A afronta da morte vil cairá sobre vós e
sobre todos os filhos de algo. Pedir-te-ão contas dela, verdugo! – gritou o
cavaleiro estorcendo-se.
-
A Deus as darei, e a mais ninguém! O desleal que violenta donzelas não é
cavaleiro. Quebro-te a espada e o foro com o meu ceptro.
Momentos
depois, D. Soeiro estava em cima do escanho, e o vílico enrolava-lhe o laço.
Comovida e trémula, Silvana lançou-se suplicante aos pés do rei. Debalde! D.
Pedro, desviando-se, perguntou ao paciente:
-
Não pedes perdão a Deus e ao rei?
-
Não!
O
pé do príncipe tombou o escanho e a morte cortou as últimas palavras do
cavaleiro.
XI
A
tropeada de muitos cavalos, soando a par do alarido e vozes do castelo,
anunciou à aldeia alvoroçada a vinda do monarca. Telo Vasques aparecia à porta
quando Soeiro Lopes expirava.
-
Besteiro! Por teus olhos vês que me não chamam em vão o Justiceiro. Corrias como noivo e como esposo… apesar disso cheguei
primeiro! A justiça do rei ainda andou mais veloz do que o amor!
Horas
depois, a camisa do enterro servia de mortalha de Soeiro na capela, e os noivos
recebiam a bênção nupcial, tendo el-rei D. Pedro por seu padrinho.
Falou-se
muito no besteiro de Miranda, mas o que não esqueceu nunca foi a justiça que
fizera em Algouço a severidade do monarca.
O
castelo devolveu-se à coroa, e parece que fora doado depois ao primogénito de
Telo e de Silvana. Pelo menos assim se disse, e se foi verdade ou fábula, não
se sabe.
El-rei D. Pedro
era tão capaz de fazer cavaleiro um vilão,
como de justiçar
como vilão um cavaleiro.
Contos e Lendas por Rebelo da Silva
Edição revista pela de 1873
Edição de 1955 da Livraria Civilização Editora - Porto - Portugal
*++Fr. João Duarte - Grande Oficial/Comendador Delegado da Comendadoria Stª. Maria do Castelo de Castelo Branco.