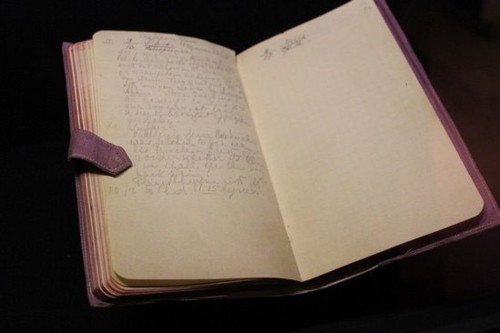O ano 2018 é o do centenário do fim da primeira guerra mundial, que foi a principal responsável pelo desaparecimento de quatro grandes impérios e respectivas dinastias: o russo, com a destituição do czar em 1917; o austro-húngaro, na pessoa do imperador Carlos I; o alemão, com a abdicação do kaiser Guilherme II, que depois se exilou na Holanda, onde morreu em 1941; e, por último, o otomano, cujo califa, Maomé VI, foi destituído a 1 de Novembro de 1922, embora a república da Turquia só tivesse sido proclamada a 29 de Outubro de 1923.
Curiosamente, tanto o kaiser Guilherme II como o czar Nicolau II – kaiser e czar são variações do título de César – eram primos direitos do rei Jorge V da Grã-Bretanha. Com efeito, o imperador alemão era neto da rainha Vitória, que também era avó de Jorge V. Este último era, por sua vez, primo co-irmão do czar Nicolau II, com quem aliás era muito parecido, mas por via das respectivas mães, que eram filhas do rei Cristiano IX da Dinamarca. Este soberano bem podia ser cognominado, a par da rainha Vitória, o avô da Europa, porque dele descendem os reis da Dinamarca, da Noruega, da Grécia, da Rússia, da Grã-Bretanha, da Suécia, da Espanha e da Roménia.
Destes quatro monarcas destronados, dois mereceram a coroa da santidade, bem mais valiosa do que a que, na terra, cingiram. Com efeito, Carlos I de Áustria, que faleceu na Madeira, foi posteriormente beatificado pela Igreja católica, estando também a caminho dos altares a sua falecida viúva, a imperatriz Zita de Bourbon Parma, filha da infanta portuguesa Maria Antónia de Bragança e neta materna de D. Miguel, irmão de D. Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil. Por sua vez, o último czar da Rússia, Nicolau II, sua mulher e cinco filhos foram canonizados pela Igreja ortodoxa, que os venera como mártires, por terem sido assassinados pelos bolcheviques, em 1918, por ódio à religião cristã.
São conhecidas as circunstâncias dramáticas em que foi exterminada a família imperial russa, na madrugada de 17 de Julho de 1918, em Ecaterimburgo. Não só os soberanos foram mortos sem terem sido julgados, nem lhes ter sido dada nenhuma hipótese de defesa, à boa maneira comunista, como também os seus cinco filhos foram executados. Foram-no aliás sem dó nem piedade, não só porque eram absolutamente inocentes das eventuais culpas de seus pais, mas também porque, por inépcia dos assassinos, não tiveram uma morte imediata. Com efeito, depois da primeira série de disparos na cave onde a família imperial russa foi morta, levantou-se uma grande nuvem de pó e os executores saíram para fora, para melhor respirarem. Porém, ouvindo os gemidos das vítimas, que também incluíam alguns fiéis servidores da família imperial, entraram de novo na sala, para darem o tiro de misericórdia aos que ainda agonizavam. Só Deus sabe o que foi o sofrimento daqueles jovens, cuja única culpa era a de serem membros da família imperial russa: foram mortos depois de assistirem à execução dos seus pais e de padecer uma mais ou menos longa agonia, por incúria dos seus carrascos. Como é da praxe em todos os regimes ditatoriais, nunca ninguém foi responsabilizado por este hediondo crime, que contou com a aprovação de Lenin, que não era menos brutal do que o seu sucessor, Stalin.
Não foram apenas o czar Nicolau II, a czarina Alix de Hesse, e os seus filhos – as grã-duquesas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia e o czarévitch Alexis – que foram mortos pelo regime de Moscovo. Na realidade, as autoridades bolcheviques tentaram exterminar toda a família. Praticamente só sobreviveram os Romanov que emigraram, pois todos os outros foram, pelo simples facto de serem parentes do deposto czar, eliminados pela ditadura do proletariado.
É impressionante a lista dos Romanov que os bolcheviques abateram, depois da revolução de Outubro de 1917. Para além do czar, da czarina e dos seus cinco filhos –com idades entre os 13 e os 22 anos – também foi assassinado o grão-duque Miguel, o irmão do czar que Nicolau II designou seu herdeiro e sucessor, na impossibilidade do czarévich herdar a Coroa, pela sua pouca idade e grave hemofilia.
Já o czar Alexandre II, avô paterno de Nicolau II, tinha sido vítima de um regicídio, em 1881; e um dos seus filhos, o grão-duque Sérgio morreu num atentado, em 1905, mas outro, o grão-duque Paulo, foi morto pelos bolcheviques em 1919. Dois sobrinhos de Alexandre II, ambos filhos do grão-duque Constantino, foram também executados pelos sovietes: Nicolau, em 1918; e Dimitri, em 1919. Deste Nicolau foi filho o príncipe Iskander, igualmente assassinado pelos comunistas em 1919, no mesmo ano em que também foi morto Boris, outro príncipe da família imperial. Também os filhos do grão-duque Miguel, irmão do czar Alexandre II, não escaparam à sanha marxista-leninista: seu filho Sérgio foi morto em 1918, enquanto os seus irmãos Nicolau e Jorge o foram no ano seguinte.
Não obstante a perseguição comunista contra a família imperial, os Romanov não se extinguiram. A sucessão da casa real russa foi assegurada pela descendência de Vladimir, tio paterno do último czar. Seu filho Cirilo sucedeu-lhe na chefia da casa e família imperial, intitulando-se, no exílio, czar de todas as Rússias. Dele foi filho, entre outros, o grão-duque Vladimir, que nasceu em 1917 e casou com uma princesa Bagration, que nas suas armas ostenta a harpa do rei David, de quem essa família diz descender. Deles foi única filha a grande-duquesa Maria, actual chefe da família Romanov e mãe do grão-duque Jorge, nascido em 1981. Será ele, algum dia, czar da Rússia? É certo que não lhe falta legitimidade dinástica, mas é duvidoso que Putin nele venha a restaurar, algum dia, o trono dos czares.
Milhares de russos, no centenário do assassinato de Nicolau II e da sua família, peregrinaram até à catedral da fortaleza Pedro e Paulo, em São Petersburgo, para venerarem os restos mortais dos mártires imperiais. A verdade histórica não permite que se esqueça que foram vítimas de uma ideologia imoral que, para alcançar os seus objectivos políticos, não teve pruridos em matar pessoas inocentes, nomeadamente mulheres e crianças. Não prestar, no primeiro centenário desta terrível tragédia, a devida homenagem ao czar e à sua família seria matá-los outra vez. Como seria ofender a sua memória omitir, por cobarde cumplicidade, a referência à responsabilidade moral do desumano regime que impunemente matou um casal inofensivo e os seus cinco jovens filhos.