As livrarias estão literalmente carregadas de títulos sobre a Guerra do Ultramar. Tema equívoco, pois que a Guerra do Ultramar foi, apenas, uma das Guerras do Ultramar que as nossa armas terçaram ao longo de meio milénio em quatro continentes e três oceanos, umas vitoriosas, outras desditosas, outras nem uma coisa nem outra, apenas guerras de resistência obstinada, quase teimosa que só a honra - esse sentimento que toca a dignidade, o bom nome e a procura do reconhecimento e respeito alheios - pode explicar.
No Oriente vencemos, perdemos, mordemos o pó da derrota e respiramos no ar a pólvora dos mais monumentais triunfos, mas nunca fomos humilhados. No Brasil vencemos, sabe-se com quantas dificuldades, batalhas, escaramuças, guerras e guerrilhas. Nas Áfricas, batemo-nos de Ceuta ao Cabo em condições sempre adversas, sofrendo as agruras do inclemente meio, do deserto às selvas e savanas, mas só conhecemos uma verdadeira vergonha - daquelas que deslustram os italianos enquanto povo anti-castrense - nessa aventura patética roçando a caricatura que foi a intervenção portuguesa na Grande Guerra.
Ora, a mais recente Guerra do Ultramar (1961-74), não foi diferente das outras guerras do ultramar. Foi a última, mas vitoriosa. Durante 13 longos anos, em três teatros de operações e cinco frentes, batemos e neutralizamos o terrorismo. O inimigo não atingiu um só dos objectivos que se propusera. A Guerra do Ultramar foi uma gesta do Zé-Soldado, das milícias negras dos territórios, das populações que acolhemos e em nós confiavam. Dessa guerra não há memória dos meninos da burguesia que pelas Franças faziam coro com os instigadores de uma guerra que não merecíamos, pois éramos diferentes e diferentes queríamos ser.
A guerra foi vitoriosa, mas o resultado foi a mais clamorosa derrota da história portuguesa. Abandonámos, envergonhados, cabisbaixos, ridículos, o campo da vitória, oferecendo ao inimigo derrotado o espólio, as bandeiras e baluartes que este não tomara. As legiões regressaram, os legionários esconderam-se durante anos na massa de uma sociedade intoxicada pelas mentiras dos meninos burgueses, entretanto regressados das Franças. Quando as cãs afloraram nesses homens que haviam sacrificado os anos de juventude - o suor do sol castigador, os febrões da malária na Guiné, em Angola e Moçambique, as agruras do cativeiro na Índia e a dolorosa saudade em Timor - começaram a escrever. Memórias, reflexões, contos, peças historiográficas surgiram uma após outra, numa torrente que hoje ocupa parte significativa da memória portuguesa contemporânea. Então, a derrota, a debandada, a irresponsabilidade, a traição cívica, as loas ao inimigo e a cobarde exaltação dos "ventos da História" caíram por terra.
O velho soldado, o José da Silva, o António Pereira, o Domingos, o Hilário, o Luís e todos os Zés, Antónios, Domingos e Hilários deste povo tiraram da caixa de sapatos as fotografias, as velhas boinas puídas, as cartas de amor que haviam recebido, mais as divisas e os crachás e pediram que os honrassem. Sim, eles haviam dado corpo ao juramento da pátria, honrado a sua palavra, sacrificado o seu corpo por todos. Os meninos das Franças, já arredondados pelo poder, calaram-se, envergonhados, como um carteirista que um dia nos roubou no autocarro e é reconhecido, anos depois, numa qualquer estação do Metro.
Miguel Castelo Branco
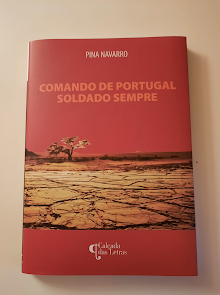
Sem comentários:
Enviar um comentário