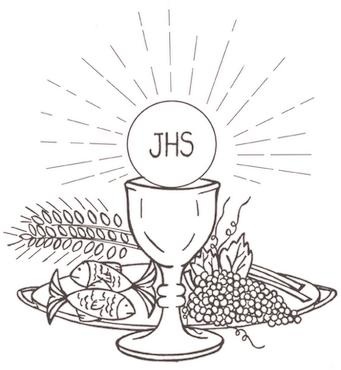domingo, 30 de junho de 2019
Família Real na Procissão do Corpo de Deus 2019
DEUS - PÁTRIA - REI: Família Real na Procissão do Corpo de Deus 2019: Fonte: Patriarcado de Lisboa
sábado, 29 de junho de 2019
sexta-feira, 28 de junho de 2019
A APOLOGIA DO “DOLCE FAR NIENTE”
“O tempora! O mores!”
“Ó tempos! Ó costumes!”
Exclamação de Cícero
(Contra a depravação dos seus contemporâneos)
Deve ser para esquecer.
As agruras da vida…
Reparem caros concidadãos como a coisa está entranhada (como diria o Pessoa).
Chusmas de jornalistas, sendo a maioria radialistas (pelo menos pelos “sound bytes” que me chegam), ficam deliciados com os dias de calor, que logo associam à praia. Daí o incentivo para ir para a praia, congratular-se com o estar na praia, é um passo curto…
A que corresponde, já agora, a abominação da chuva que, como se sabe não faz falta nenhuma…
Até aqui se vê a diferença entre uma cultura citadina, quiçá, suburbana infecciosa – cuja alternativa invernosa é ir passear de fato de treino para os centros comerciais – e a ruralidade do interior cada vez mais abandonado e despovoado.
A última frase que nos feriu os tímpanos foi pronunciada na Rádio Renascença no pretérito 28 de Abril: “ter areia no carro não é tão bom? É sinal que estamos perto da praia…”
Bom, ir à praia, apesar de ser um hábito relativamente recente – inaugurado pela Corte Inglesa em fins de setecentos, mas apenas verdadeiramente assumido e generalizado, no século XX e por fases – não tem nada de mal e eu não me eximo a fazê-lo.
A questão está em que para se ir à praia, outros ou os mesmos, têm que assegurar que o podem fazer.
Ou seja, tem a ver com bom senso e o trabalho (melhor dizendo produtividade) realizado.
Ou seja o bom senso deve dizer-nos que o trabalho vem primeiro que o lazer; que os direitos devem derivar dos deveres cumpridos (ao contrário do que prescreve a nossa douta Constituição); que a praia serve para retemperar as forças físicas e anímicas para continuar a vida, mas não é um fim em si mesmo. A praia não educa, nós é que devemos ser educados para ir à praia. Outros exemplos (e não só de praia) se poderiam dar.
Quanto ao trabalho, e à produtividade, quem quer saber dele? É tido como uma canga!
Uma chatice.
Quem lhe louva os méritos? Quem lhe sobressai a necessidade? Quem incensa o bem -fazer?
Pois parece que ninguém.
Antes pelo contrário, tudo se faz para o depreciarem, denegrir e evitar.
Criou-se o mito das boas e das más profissões, em vez de se justiçar os bons e os maus profissionais; estimula-se a preguiça através do subsídio de desemprego (de que se abusa); do rendimento mínimo garantido (de que se abusa) e de outros apoios sociais (de que também se abusa!).
O resultado é que os nacionais (e, sobretudo, os europeus) deixaram de querer fazer determinados ofícios e tarefas, resultando as incongruências da emigração e da imigração (de que se abusa); a ociosidade (com o seu cortejo de consequências/vícios) e estarem os centros de emprego cheios de desempregados e uma quantidade enorme de vagas de emprego por preencher…
Para tal muito contribuiu o fim das Escolas Técnicas e Comerciais; o nivelar por baixo e a estúpida mania de que toda a gente tem que ter uma licenciatura!
Acontece, porém, que a Natureza surtiu imperfeita no âmbito do ócio e do trabalho, ou seja, obriga – desde a Idade da Pedra Lascada - a que, o “homo sapiens sapiens” tenha de respirar; comer e beber qualquer coisa diariamente; tem de se proteger das intempéries; acumule algumas reservas para dias piores; garanta uma forma qualquer de energia; consiga sobreviver através da reprodução e se organize e estude um pouco o que se passa à sua volta, a fim de aprender alguma coisa. Só para ficarmos por aqui.
Azar dos Távoras, não é que tudo isto dá um trabalho dos diabos? E que dizer de todos aqueles que são a maioria, que passam a vida a labutar, a aspirar pela reforma (que é outra modernice com poucos anos – refiro estas coisas para situar devidamente as questões) e depois se esquecem de a preparar e estiolam pelos cantos, sem sequer lhes apetecer ir à praia? Ora a “praia” parece que se traduziu nesta sociedade moderna numa obsessão, enquanto não há quem elogie o trabalho.
Mais ainda, passou a trabalhar-se para ir de férias e, quando se regressa destas, precisa-se de novo ir para a praia descansar. Das férias e da “depressão” de se ter que ir trabalhar novamente…
Os próprios feriados passaram a ser “ilhas” para se ir para a praia, em vez de se comemorar a razão da sua origem. Sendo assim, como justificar a sua existência?
Os jornalistas, os comentadores, a escola, e por arrastamento (aqui põe-se a questão do ovo e da galinha) os políticos, vão na onda da demagogia e do “laisser faire, laisser passer”.
Os sindicalistas e os Partidos Políticos, além de não valorizarem o trabalho reivindicam constantemente, não a sua melhor organização e produtividade, mas o trabalhar menos, recebendo mais. Por sua vez os empresários dão prioridade ao lucro em detrimento da elevação moral e da “alegria” no trabalho. Preferem a distribuição de dividendos à liderança e ao investimento.
No início dos tempos, o trabalho revertia para o próprio e as trocas eram directas através de produtos, ou em troca de segurança.
Até se inventar o dinheiro.
Um “cómodo” muito eficaz que permite trocar trabalho ou a aquisição/venda de um produto ou serviço, por uma retribuição monetária.
Mas, para além de se manter esta relação em desequilíbrio constante, conseguiu - se desestabilizar as relações sociais e entre Estados, para todo o sempre e fomentou - se os piores instintos da natureza humana, como a cupidez, a avareza ou a ganância.
Mas isso já é outro âmbito de discussão e já ninguém se lembra de como tudo começou.
Se calhar o melhor mesmo é ir para a praia.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)
DEUS - PÁTRIA - REI
quinta-feira, 27 de junho de 2019
Deixem os nossos grandes em paz!

Duas notícias que só não aparecem ligadas na cabeça de quem não quer abrir os olhos: em Lisboa, no Campo das Cebolas, confirma-se o aparecimento de um "memorial" e "centro interpretativo" da escravatura; em Santarém, o monumento a Pedro Álvares Cabral, localizado junto da igreja onde repousa o capitão, vandalizado com um texteco infame e absurdo: "Colonialismo é fascismo".
O que está a acontecer? Assistimos - sejamos francos, pouco fazendo para parar a marcha dos vândalos - não somente à manipulação da História, mas até à sua inversão: a História transforma-se em anti-História; a sua celebração, ritual essencial à construção dessa cidadania activa, positiva e comprometida que é o patriotismo, é ostensivamente proibida e diabolizada; os heróis de ontem são deitados por terra, cumulados de injúrias patéticas, os seus bustos partidos, os seus monumentos rabiscados, a sua defesa reduzida a "fascismo", a "colonialismo", a "supremacismo". Ao mesmo tempo, essa anti-História recém-surgida é-o na plenitude do termo: não tem método, não é ciência, não busca a verdade, despreza patentemente a ferramenta essencial do labor historiográfico sério (a compreensão do contexto, do momento, do tempo) e converte o passado em mera arma para os combates políticos do presente. O "memorial à escravatura" que se pretende fazer em Lisboa não tem que ver com memória ou com escravatura. Se é sobre a escravatura, como aqui há tempos lembrava o Professor Luís Filipe Thomaz, por que o fazem em Lisboa, uma cidade cujo controlo directo sobre o tráfico negreiro foi sempre, na melhor dos casos, precário? Se o "centro interpretativo" é um projecto histórico e pedagógico em lugar de um bizarro totem de lamentações artificiais, "interpretará" o papel essencial, central, primeiro, insubstituível das monarquias negras da costa africana na criação do tráfico negreiro para as Américas? Recordarão que as sociedades que os portugueses encontraram na costa de África eram todas elas esclavagistas, e que todas elas escravizavam mulheres e homens negros? Se o centro for coisa interessada na verdade da escravização de africanos, lembrará que não foram os portugueses ou qualquer outro povo europeu, mas os árabes, os primeiros implementadores da escravatura em larga escala de povos negros? Evidentemente, nem "memorial", nem "centro" são projectos de boa-fé. São projectos políticos e animados por um ódio irracional à História, à tal memória que é seiva da cidadania e à própria ideia de cidadania (de fidelidade a uma comunidade política enraizada no passado, em instituições próprias e numa ideia de si mesma).,
O ataque ao monumento a Álvares Cabral é um insulto a Portugal e ao Brasil, sim, mas é antes de mais uma ofensiva contra o bom senso. Álvares Cabral não era fascista (o fascismo é um fenómeno do século XX); não era racista ou supremacista (o racialismo data do século XIX); não era colonialista, pois Portugal não teve, no sentido que hoje atribuímos ao termo, "colónias" antes do século de Oitocentos. Degenerando esta onda de histeria - universitária de início, hoje de rua - em violência concertada contra o património, exige-se das autoridades mão dura, dos cidadãos vigilância e das instituições trabalho - quer de denúncia, quer de esclarecimento. Para isso tem e continuará a Nova Portugalidade a servir, percebendo-se mais claramente a cada semana e mês que passam que ela apareceu no momento certo, e que cada vez mais é necessária.
RPB
Quando o analfabetismo triunfou em Portugal

Há tempos, num textozinho, um académico voltava - impenitente e ignorante que é - a oferecer o retrato de um Portugal beato, obscurantista, imóvel e odiosamente hostil às letras. Ora, chegou a hora de estes fulanos deixarem de lado a galeria de quadrinhos anedóticos à Oliveira Martins ou à Antero e se debruçarem sobre a imensa documentação acessível a qualquer investigador no arquivo nacional e nos arquivos regionais.
Os acontecimentos e a profusão dos testemunhos contemporâneos - suficientemente ilustrados por dados estatísticos - confirmam-no: no fim do Antigo Regime, o ensino entrou subitamente em colapso. O analfabetismo estrutural que doravante marcaria profundamente a sociedade portuguesa na segunda metade do século XIX e todo o século XX, não terá sido herança do Portugal antigo, mas do Liberalismo. De Ernesto José Caldas, na História de um fogo morto, retiro o seguinte elucidativo episódio do saque e destruição sistemática das bibliotecas conventuais e monásticas que cobriam o território português:
"As livrarias a monte. Tudo roubou. Primeiro acudiam os que se tinham na conta de entendidos; depois os curiosos; por último a canalha que roubava para vender a peso. As mercearias encheram-se de missais, de breviários, de sermonários, de tudo quanto constituía o fundo dessas bibliotecas".
Os 300.000 volumes que escaparam à rapina ou à destruição constituiriam, talvez, um décimo dos livros existentes em Portugal nos finais do Antigo Regime. Nem as bibliotecas de particulares se salvaram à vaga de ódio e terrorismo cultural. Seria importante lembrar que, entre 1833 e 1836, foram sequestradas as livrarias dos "rebeldes" - ou seja, dos miguelistas - as quais possuíam dezenas de milhares de títulos. Destes últimos (os "rebeldes") deram entrada na Biblioteca Nacional cerca de 30.000 volumes, pelo que se pode imaginar as dezenas ou mesmo centenas de milhares de obras roubadas, queimadas e perdidas. A elite cultural do país desapareceu, pura e simplesmente.
MCB
DEUS - PÁTRIA - REI
quarta-feira, 26 de junho de 2019
segunda-feira, 24 de junho de 2019
domingo, 23 de junho de 2019
O secretário de Estado da (má) Educação
A área de Cidadania e Desenvolvimento, dirigida a crianças desde os 6 anos de idade, é o ‘cavalo de Tróia’ para a introdução da ideologia de género.
No mesmo dia em que foi aqui publicada a crónica A ideologia de género não é ciência, é ideologia, o secretário de Estado da Educação, Professor Doutor João Costa, fez, numa rede social, o seguinte comentário: “Este é o mesmo senhor – tenho alguma dificuldade em chamá-lo Padre – que há uns anos insultou um jovem por não tirar um chapéu sem procurar saber que ele o enterrou na cabeça para não ser reconhecido pelo pai, que lhe batia para não ir à escola. Estamos, portanto, conversados. Felizmente, como me disse um Padre a sério, a Igreja é como a arca de Noé: há espaço para todos. Deve ser fácil pregar em circuitos fechados de elites privilegiadas.”
O jornal Notícias do Viriato, que divulgou esta mensagem com o título óbvio – “Secretário de Estado da Educação insulta Padre” – acrescentou a seguinte explicação: “O secretário de Estado da Educação, João Costa, ao reagir no Facebook a um artigo de opinião no Observador sobre a Ideologia de Género, do Padre Gonçalo Portocarrero de Almada, referiu-se ao Padre como não sendo ‘a sério’ e que tinha ‘dificuldade em chamá-lo Padre’. Curiosamente, o título do artigo de opinião anterior do Padre, intitulava-se de Já abriu a caça aos Padres?”.
Se o que um senhor João Costa pensa de um padre qualquer nem a este interessa, muito menos à opinião pública. Mas, mesmo tendo o ofendido relevado o insulto, não pode passar despercebida a grave acusação de que o dito presbítero insultou um jovem, desmerecendo da sua condição sacerdotal, formulada publicamente pelo secretário de Estado da Educação. Com efeito, há alguns anos, um efémero Ministro da Cultura foi mesmo obrigado a demitir-se, por se ter expressado também, numa rede social, de uma forma indigna de um membro do governo. Não é, portanto, por motivos pessoais – aliás inexistentes – que se presta este esclarecimento, mas em prol da verdade e a bem da nação.
A 12-1-2016, publiquei neste jornal a crónica O ministro da (má) educação na Baixa da Banheira, em que, entre outras coisas, escrevia: “No Público do passado dia 5 de Janeiro [de 2016] noticia-se, em artigo de página inteira, a visita que, na véspera, o ministro da Educação e o secretário de Estado João Costa fizeram à Escola Secundária da Baixa da Banheira, por ocasião do início do segundo período lectivo. A acompanhar o texto, consta uma fotografia em que se podem ver, ao fundo, os governantes e comitiva junto à porta aberta da sala onde, em primeiro plano, aparecem quatro presumíveis alunos daquela escola”.
Até aqui o facto, que me limitei a registar. Depois, acrescentei o seguinte comentário: “O que mais prende a atenção é o facto de três dos ditos quatro alunos estarem de cabeça coberta, em plena sala de aula. Um, decerto o mais friorento, não se contentou com um simples gorro, porque enfiou o capuz do seu blusão impermeável que, ao tapar-lhe as orelhas e a boca, indicia um total alheamento. Os outros dois ficaram-se por uns mais discretos bonés, que um deles usa com a pala para trás. Ora, ter a cabeça coberta, dentro de uma sala, é objectivamente uma falta de respeito, tanto em Bragança como em Faro, ou na Baixa da Banheira, salvo algum muito discutível modismo local que me esteja a escapar”.
E rematei o assunto, dizendo: “Talvez alguém pense que a questão dos bonés é relativamente secundária, tendo em conta os enormes desafios a que devem fazer frente as escolas em zonas mais sensíveis, como é o caso. Não ponho em causa as intenções daqueles adolescentes, nem o mérito dos seus professores e da sua escola, mas a educação, ou é integral ou não é nada. Educar não é despejar um conjunto de conteúdos nas cabeças de uns quantos indivíduos, na esperança de que depois os saibam debitar. É, sobretudo e principalmente, formar cidadãos livres e responsáveis, que amanhã possam contribuir validamente para o bem comum. Para tal, precisa-se certamente de alguma bagagem cultural e técnica mas, mais ainda, de aprender a conviver, o que não se pode fazer sem um mínimo de educação. De boa educação, entenda-se!”
Agora, três anos e meio depois, o secretário de Estado da Educação foi desenterrar esta crónica para dizer que sou “o mesmo senhor […] que há uns anos insultou um jovem por não tirar um chapéu sem procurar saber que ele o enterrou na cabeça para não ser reconhecido pelo pai, que lhe batia para não ir à escola.”
O comentário do Professor Doutor João Costa, tal como foi publicado no Notícias do Viriato, apresenta graves deficiências gramaticais, indesculpáveis num membro do governo, que até é secretário de Estado da Educação e doutorado em linguística. Por exemplo, a frase “que há uns anos insultou um jovem por não tirar um chapéu sem procurar saber que ele o enterrou na cabeça para não ser reconhecido pelo pai” (uf!) carece de alguma pontuação, em benefício dos asmáticos e não só. Também a alusão a “um chapéu” (?!) não é correcta, porque, embora chapéus haja muitos, ali só havia gorros, capuzes e bonés. Enfim, faltas de educação…
Mais infeliz, porque caluniosa, é a sua afirmação de que, nesse texto, se “insultou um jovem”. Na dita crónica, que pode ser lida na íntegra no Observador, não só não há nenhum insulto, como até muito delicadamente se reconheceram “os enormes desafios a que devem fazer frente as escolas em zonas mais sensíveis, como é o caso”, ao mesmo tempo que se afirmou, expressamente, que não se punham “em causa as intenções daqueles adolescentes, nem o mérito dos seus professores e da sua escola”. Aliás, não foi “um jovem”, mas três os que foram referidos por estarem encapuçados na sala de aula – será que os três padeciam da mesma incompreensão familiar?! E, em relação ao que estava mais resguardado, até houve a caridade de o desculpar, supondo que era “decerto o mais friorento”. Portanto, senhor secretário de Estado, onde está o insulto?!
Se alguém não teve a devida consideração pelo jovem em questão foram, decerto, a escola e os ditos governantes. Com efeito, não respeitaram o direito à imagem desse aluno, nem a sua privacidade, porque deixaram que fosse publicada, num jornal de expressão nacional, a sua fotografia. Sabendo da melindrosa situação familiar desse rapaz, os dirigentes daquele estabelecimento de ensino não deviam ter permitido a presença de jornalistas ou, autorizando-a, deveriam ter proibido a publicação de fotografias do dito estudante. Mas, claro, como todos os motivos são bons para fazer propaganda política, o ministro e o secretário de Estado deixaram-se retratar junto daquele aluno, sem se preocuparem com a consequência trágica que, para o jovem, podia decorrer dessa sua acção gratuita e publicitária. E, como se não bastasse, três anos e meio depois, o mesmo secretário de Estado vem a público dizer que fui eu que insultei o pobre estudante …
Quanto à arca de Noé, é muito de saudar o seu conhecimento bíblico. Mas, para o país, seria melhor que, em vez de promover a opção política totalitária do monopólio estatal da educação, garantisse a constitucional liberdade de aprender e de ensinar. Como? Viabilizando os colégios de maior qualidade educativa, como o da Imaculada Conceição, em Cernache, agora impedido, pelo Ministério da Educação, de prosseguir a sua meritória acção educativa e social, que privilegiava sobretudo os estudantes mais carenciados.
A Doutora Mafalda Miranda Barbosa, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, também comentou, na mesma rede social, a crónica que tanto indignou o secretário de Estado da Educação: “Um texto a não perder. Um texto que, pelos vistos, incomoda os políticos no governo, o que só mostra o seu valor. Até porque contra ele não conseguiu o senhor secretário de Estado que se resolveu pronunciar mobilizar um único argumento, preferindo desferir ataques ad hominem”. De facto, é de lamentar – ou talvez não – que o Doutor João Costa não tenha sido capaz de fazer uma única crítica ao teor da referida crónica e, por isso, se tenha visto obrigado a recorrer ao insulto pessoal, como aliás o Notícias de Viriatopublicamente reconheceu, no título da respectiva notícia.
É óbvio que o recurso à calúnia mais não foi do que uma manobra de diversão, para desviar a atenção do que realmente interessa: a implementação, em Portugal, da ideologia de género. Como muito bem escreveu o Engº Mário Cunha Reis, conselheiro nacional do CDS, “a área de Cidadania e Desenvolvimento, dirigida a crianças desde os 6 anos de idade, é o ‘cavalo de Tróia’ para a introdução da ideologia de género, da sexualidade precoce e da cultura LGBT” (Ideologia de Estado, Observador, 16-3-2019).
O mesmo engenheiro escreveu ainda: “João Costa rejeita a existência da Ideologia de Género. Demonstração? Simples: ‘Uma pesquisa bibliográfica simples no catálogo da Biblioteca Nacional não regista qualquer entrada sobre Ideologia de Género’ (sic). Tive oportunidade confirmar e de fazer igualmente uma pesquisa por Ideologia Comunista. De facto, para ambas não há qualquer resultado, pelo que devo depreender também que a ideologia comunista não existe, não obstante ter sido causadora da perda de milhões de vidas humanas. Bizarro, não é? Contudo, fazendo uma pesquisa por queer, a teoria que confere o carácter científicoà ideologia de género, a que defende que a orientação sexual e a identidade sexual ou de género é uma construção social, não estando constrangida pela natureza ou pela biologia, é apresentada mais de uma dezena de entradas”.
Conclui Mário Cunha Reis: “Se o Doutor João Costa estivesse a prestar provas académicas, por certo que ouviria do júri que se esperava dele maior honestidade intelectual; mas, afinal, trata-se, agora, de um mero governante socialista”. Pois é, e é pena. Haja a esperança de que o próximo Secretário de Estado da Educação, mesmo que seja também de um governo low Cost(a), não só seja um governante a sério, mas sobretudo seja sério. Pode ser que ainda haja algum, no porão da arca de Noé…
Fonte: Observador
DEUS - PÁTRIA - REI
sábado, 22 de junho de 2019
Desfazer mitos históricos D. João V, o que não passava a vida em Odivelas

A lenda negra que pesa sobre o Magnânimo é hoje património exclusivo dos preguiçosos, dos desonestos intelectuais e dos sectários. Foi um grande Rei, não se poupou aos incómodos da função, foi entusiasta de letrados, de artistas e homens de ciência, um exigente recrutador de servidores do Estado. Ora, hoje, ao ler Mendes Coelho, deparei com um exemplo da entrega esforçada do Rei ao seu ofício. Num dia da primavera de 1721, incógnito e acompanhado de dois prebostes, cavalgou por caminhos lamacentos, dormindo em descampados e submetido à aspereza dos elementos, até que chegou a Évora pelo início da noite do terceiro dia, ordenando que os responsáveis do Santo Ofício local se apresentassem de imediato na Casa da Inquisição. Ali chegados, aturdidos pela presença do monarca, foi-lhes ordenado que mostrassem os calabouços, os alimentos destinados aos detidos, os livros de registo e de contabilidade. Assim era o tal Rei "freirático", ocioso "obscurantista". É o que digo sempre: a grande batalha em Portugal para desalojar politicamente a mentira tem de se fazer na revelação da história.
DEUS - PÁTRIA - REI
sexta-feira, 21 de junho de 2019
Visita ao Convento de Carnide - Roteiros Reais
DEUS - PÁTRIA - REI: Visita ao Convento de Carnide - Roteiros Reais: No próximo dia 29 de Junho, pelas 10:00, a Real Associação de Lisboa retoma a sua rubrica dos Roteiros Reais, desta vez para conhece...
quinta-feira, 20 de junho de 2019
quarta-feira, 19 de junho de 2019
A RECONFIGURAÇÃO DA “DIREITA NACIONALISTA”?
“Tem a palavra o Senhor Deputado:
- Senhor Primeiro-Ministro, isto está de tal maneira
mau que até as raparigas licenciadas têm que se
prostituir para sobreviver.
O Primeiro-Ministro com o seu sorriso responde:
- Lá está o Senhor Deputado a inverter tudo, o que
se passa é que o nosso sistema de ensino está tão
bom, que até as prostitutas hoje são licenciadas.”
Conversa de Parlamento.
A propósito de um trabalho jornalístico sobre uma possível reconfiguração da “Direita Nacionalista” (assim designada), a quem alguns conotam com a direita radical/extremista, protagonizada (ainda segundo a mesma fonte) por uma nova geração, assumidamente identitária e contra a emigração, e de uma palestra que fiz para uma jovem organização, talvez abusivamente incluída na designação atrás mencionada, fui questionado por um jornalista, que me colocou três questões sobre o assunto.
Resolvi adaptar o texto que entreguei com as respostas, o que resultou no artigo que segue.
Não tenho conhecimento especial sobre o que julgo ser apelidado sobre “reconfiguração da Direita Nacionalista…”, para além do que vem expresso nos “media”, o que me parece o mais das vezes distorcido por falta de isenção noticiosa.
Também não sei avaliar o que se deve entender por “radical/extremista”. Se for extremista, pouco a distinguirá nos fins e processos dos extremismos (totalitarismos) do outro extremo do leque partidário; se por “radical” entendermos aquele que aprofunda ou vai às raízes dos problemas, já me pareceria uma lufada de ar fresco, coisa infelizmente impensável na lógica político/partidária.
E se são contra a imigração desregrada, como também vem expresso, só é pena serem pouco.
Clarifico:
O problema “migratório” actual é muito mais um problema geopolítico do que humanitário. E deve ser parado a bem ou a mal.
Por três ordens de razões: de segurança e soberania; de integração (que alimenta várias actividades ilícitas), e sobretudo pelo risco de alteração profunda da matriz cultural, social e identitária da Nação Portuguesa (no nosso caso), como tal.
Este facto já está a gerar consequências terríveis em vários países europeus, que serão más para todos (e não só para alguns), piorando dramaticamente as questões humanitárias em vez de as minorar ou resolver.
Aquilo que se pode entender por “Direita” começou a ficar destroçado ainda antes do fim do “Estado Novo” (como a dita “Extrema Direita” foi liquidada, em 1934, com o fim do “Nacional-Sindicalismo”), Regime que prosseguia um fim político e doutrinário nacional e patriótico, algo equidistante de ideologias (ou para além delas), sem preocupações de conotações de esquerda/direita – sem embargo do seu carácter estruturalmente anti comunista, mas também anti liberal selvagem e independente de jugos estrangeiros ou organizações “capciosas” mais ou menos secretas/discretas.
Concretamente, não me parece que se esteja, ainda, a dar passos para um projecto político unitário e consistente.
Há falta de doutrina; muito “complexo de quinta”; muita divisão, etc., não tendo ainda aparecido uma liderança destacada.
Vivemos numa sociedade muito atomizada, hedonista, egoísta e individualista, para que um projecto nacional consistente – é isso o que verdadeiramente devia estar em causa – possa vingar, facilmente.
As mentiras históricas, políticas e sociais postas a correr, após o 25 de Abril de 1974, (algumas das quais passaram a ser uma espécie de “mentiras de Estado”); a blindagem que as actuais forças políticas com assento parlamentar, fizeram do sistema político e a maioria dos “média”, subvertidos pela chamada “Escola de Frankfurt”, e não só, não ajudam, também, a mudanças no “status quo”.
Além disto uma das imagens de marca das forças que sustentam a III República foi confinar o Parlamento a estar reduzido – ainda segundo a linguagem serôdia da Revolução Francesa – entre o Centro e a Extrema-esquerda…
E isto tendo por base (digo eu) a afirmação de que os Partidos Políticos são, talvez, a pior invenção de sempre, da “Ciência Política”!
Enfim, o caminho faz-se caminhando e tudo o que se possa fazer para agitar o pântano suicidário em que estamos, será sinal de Esperança.
*****
A actual geração, melhor dizendo uma pequena parte dela, pois está marcada, constrangida e algo asfixiada pelo politicamente correcto; a alienação futebolística, das novelas e dos concertos rock; baralhada pelo dilúvio de notícias e desinformação; desmoralizada por escândalos consecutivos de corrupção e maus exemplos e, sobretudo, tocada pelo Relativismo Moral, que atenta diariamente com a noção do BEM e do MAL está, naturalmente, a questionar e a questionar-se, a fazer perguntas e a colocar questões.
Procura novos caminhos e um ideal que valha a pena abraçar.
Eu sou apenas um velho português que não se sente ideologicamente com nenhuma força política actual.
As ideologias são invenções do pensamento humano, que muitos seguiram com boas intenções, outros como alavanca para a tomada do poder e a maioria por moda.
A sua aplicação nunca resolveu nenhum problema; criaram muitos outros e não raro desembocaram em guerras ou lutas intestinas fratricidas.
A melhor ideologia, melhor dizendo, doutrina moral e social, tem mais de três mil anos e está condensada nos 10 Mandamentos. Mas sendo apenas dez, raramente o ser humano os consegue ou quer, seguir.
O nosso País, que houve nome Portugal, tem uma matriz política e cultural coesa, que lhe vem do princípio da nacionalidade. É o país com fronteira definida, mais antigo da Europa (enfim, falta resolver a questão de Olivença e o seu termo!), quiçá do mundo, mesmo tendo em conta a realidade arquipelágica do Japão que, aliás ajudámos a unificar.
Somos um dos raríssimos países, senão o único, em que a Nação antecedeu o Estado, sendo que a maioria dos estados existentes, nunca conseguiu constituir uma nação. O caso, para nós, mais paradigmático é a Espanha.
Não existem problemas de raça, língua, cultura, separatismos (andam, porém, a querer inventar problemas com a estúpida da regionalização), ou religião.
Com este pano de fundo é natural que exista uma noção prática de coesão nacional telúrica, que entrou no nosso “ADN” (e está para além das ideologias), que seja difícil beliscar e que tem conseguido sobreviver a todos os desastres havidos e às três maiores ameaças à tal matriz inicial, que ocorreram no reinado de D. João III; a seguir à implantação do Liberalismo e na sequência do golpe de estado ocorrido a 25 de Abril de 1974, a situação mais perigosa de todas.
Por isso é natural, recorrente e lógico, que velhas questões e ameaças aflorem às mentes dos mais jovens (sobretudo quando os avós não lhes passam o testemunho), apesar das tentativas, que tenho de considerar criminosas, de se querer distorcer e, ou, abolir a memória histórica e colectiva da Nação.
Numa palavra, para se alcançar as “aspirações utópicas”, clássicas, de Segurança, Justiça e Bem-Estar – por esta ordem, já que a ordem dos termos não é arbitrária – não é necessário professar qualquer tipo de ideologia especifica, mas realizar com competência, honestidade e patriotismo – daí o problema fulcral da escolha e preparação das elites – o que for julgado adequado em cada momento para o todo nacional.
Tendo à cabeça, é bom de ver, o objectivo nacional, permanente e histórico, originado nos campos de S. Mamede, em 24 de Junho de 1128 e sedimentado em Ourique, em 25 de Julho de 1139: garantir a independência soberana da Nação Portuguesa; a segurança do território e o alvedrio das suas gentes, que o habitam vai para 900 anos.
Daqui deriva a importância da preservação do termo “Nação” e da sua idiossincrasia, que não é mais do que o conjunto extrapolado de famílias, que se identificam com a tal matriz cultural inicial, que nos formou, caldeada por todas as vicissitudes históricas, que lhes foram comuns. E que através desse cadinho de séculos se transmutou de uma realidade apenas física, para uma entidade espiritual chamada Pátria. A Pátria Portuguesa (a qual está muito para além da língua de que falava o Pessoa).
Ora para se preservar a Nação é necessário adequar todo o sistema político à mesma e não violenta-la com invenções estranhas que lhe são inadequadas, nefastas e até aberrantes.
E devemos começar pela Constituição da República, bastando referir para isso que nos seus 289 artigos (a mais extensa desde a primeira datada de 1822) não refere uma única vez o termo Nação e apenas uma vez (no seu artigo 276) a palavra Pátria…
Ora isto é só por si muito lamentavelmente revelador!
*****
Fui convidado a participar num fórum de reflexão cívica tão mais importante, quanto se sabe que o pensamento e o discurso político e social, nacional, foram capturados por uma partidocracia que instaurou em Portugal, não uma Democracia, mas uma ditadura partidocrática, bem como a corrupção dos costumes.
Falei sobre os “Espaços Estratégicos de Interesse Nacional”, o que está no âmbito da Geopolítica. Fundamentalmente tem a ver com o problema do Espaço; os cenários geográficos e políticos com que nos defrontamos; os interesses que são importantes defender, para Portugal e as possíveis ameaças aos mesmos.
Uma análise que, melhor ou pior, sempre se fez desde Afonso Henriques até 1974, mas que daí para cá, passou a constituir uma actividade menor, difusa e envergonhada.
Enfim, uma maçada.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)
DEUS - PÁTRIA - REI
terça-feira, 18 de junho de 2019
O amor da Pátria

A Pátria é a terra que nossos pais nos legaram; é esta gleba riscada à ponta de lança e
firmada à força de fé por ínclitos avós que a legaram inteira e sagrada ao gozo de seus
netos; é um património de virtudes morais, de tesouros que recebemos de nossos
maiores e que devemos transmitir, enriquecido, às gerações futuras. A Pátria é o passado,
o presente e o futuro do mesmo povo. É uma fonte de riquezas e de alegrias.
firmada à força de fé por ínclitos avós que a legaram inteira e sagrada ao gozo de seus
netos; é um património de virtudes morais, de tesouros que recebemos de nossos
maiores e que devemos transmitir, enriquecido, às gerações futuras. A Pátria é o passado,
o presente e o futuro do mesmo povo. É uma fonte de riquezas e de alegrias.
(...)
A causa do amor da Pátria – está na paternidade – pertencemos à Pátria pelas raízes
paternas. Amamos a Pátria, diz alguém, porque vimos aí um sorriso nunca mais visto, e
bebemos aí um afecto nunca olvidado – o afecto e o sorriso de nossas mães.
paternas. Amamos a Pátria, diz alguém, porque vimos aí um sorriso nunca mais visto, e
bebemos aí um afecto nunca olvidado – o afecto e o sorriso de nossas mães.
– «A fé viva dos nossos pais reverentes aos mesmos altares e genuflexos ao mesmo Deus»,
é o que prezamos de mais precioso e mais belo.
é o que prezamos de mais precioso e mais belo.
– Se a terra-pátria, por mais modesta que seja, vale para nós o universo é porque «encerra
uns ossos a que nos prende a alma, e entesoura umas cinzas que nos cristalizam a memória,
os ossos e as cinzas de nossos pais».
uns ossos a que nos prende a alma, e entesoura umas cinzas que nos cristalizam a memória,
os ossos e as cinzas de nossos pais».
– «O túmulo assemelha-se a um altar, as lágrimas que aí se vertem, as preces que aí ciciam,
as flores que aí rescendem não se dirigem a uma vulgaríssima poeira, dirigem-se e elevam-se
à Pátria celeste, até ao trono de Deus Clementíssimo que dá às almas o descanso eterno e
a luz do perpétuo esplendor».
as flores que aí rescendem não se dirigem a uma vulgaríssima poeira, dirigem-se e elevam-se
à Pátria celeste, até ao trono de Deus Clementíssimo que dá às almas o descanso eterno e
a luz do perpétuo esplendor».
segunda-feira, 17 de junho de 2019
Breve História Do Condado Portucalense

Muito antes da Fundação da Nacionalidade Portuguesa em 1139, e da Independência com o Acordo de Zamora em 5 de Outubro de 1143 e ainda antes do Condado Portucalense, a primeira entidade política da Península foi o Reino de Tartessos.
Apontado como tendo existido no século I a.C., este Reino situava-se no Sudoeste da Ibéria, e era apontado pelo latino Plínio-O-Velho como o Povo mítico da Ibéria. A Civilização Tartéssica com as suas origens no período final da Idade do Bronze, era uma cultura oriental autóctone com inícios no século VIII a.C.. A sua área principal foi o oeste da Andaluzia, no entanto depressa estendeu a seu predomínio até à costa leste da Península e, no que a Portugal concerne, até ao estuário do Tejo, com peculiar ocorrência no Algarve.
A evolução deste Reino deve-se aos contactos multilaterais com outros povos, designadamente os Fenícios, que eram originários da região que é hoje o Líbano. Sem Estado central, os fenícios organizavam-se em Cidades-estado, muito normal na época. Com a terra pouco propícia a ser cultivada, cedo se dedicaram ao comércio, sobretudo naval, aproveitando a excelente localização geográfica e a navegabilidade do grande lago que é o Mediterrâneo. Ao longo do nosso mar interior fundaram inúmeras feitorias, entre as quais a lendária Cartago. Foi daí que começaram a desenvolver o comércio com a costa meridional da Península, onde se situava o Reino Tartéssico. Foi a partir de Tartessos que os fenícios expandiram as suas rotas comerciais estabelecendo contacto com toda a Península Ibérica. A influência tartéssica será duradoura no sul de Portugal até ser substituída pela forte presença celta, resultado de processos migratórios dos Celtissi, para esta zona.
Passado o reino de Tartessos à condição de mito, e com o declínio da civilização fenícia uma nova potência emergiu no mundo conhecido: Cartágo. Foi o comércio Púnico que pôs todo o Mediterrâneo a comerciar entre si.
Porém, e porque o devir da história é constante, começaram as Guerras Púnicas, com a emergente Roma a tornar-se pouco a pouco a senhora do mundo.
Foi na sequência da Segunda destas guerras que em 200 a.C. os romanos começaram a conquistar a Península Ibérica aos cartagineses. Cartago delenda est. Assim à volta de 136 a.C. o Cônsul Decimus Junius Brutus conquista nesse processo a cidade de Cale.
Alguns historiadores têm defendido que os gregos foram os primeiros a assentar em Cale e que o nome deriva da palavra grega Kallis, "belo", referindo-se à beleza do vale do Douro. Outros, por causa do morro granítico da Pena Ventosa, defendem que deriva da palavra indo-europeia Kal (pedra); outros ainda, presumem que a palavra Cale veio da palavra latina para "quente". A principal explicação para o nome, porém, é que ele é um gentílico derivado do povo Castro que se estabeleceu na área da Cale. De facto, Cale não era mais do que o povoado da Sé do Porto, e era assim chamado porque o povo que habitava essa região era o Calaico.
O primeiro contacto dos Calaicos com outro povo, foi com os romanos na data acima referida, embora só em 74 a.C., com Perpena, tribuno lacticlávio (lugar-tenente) de Sertório, foi conquistada Cale; mas só depois das Guerras Cantábricas de Octávio César Augusto foi conseguido o domínio efectivo da região, também, a partir das quais, os romanos passaram a subjugar completamente a Ibéria a que chamaram de Hispânia.
Com o domínio romano veio a sua organização territorial em conventus e civitates.
A Callaeci (Calécia) ou Gallaeci depois Gallaecia (Galiza), tornou-se independente da Terraconense e abrangia todo o Norte de Portugal.
Cale tinha dentro da Calécia uma localização estratégica, pois, na região, todos os caminhos lá iam dar. Além de estar relativamente perto das maiores regiões de extracção aurífica, era aí que se situava um dos portos de maior navegabilidade do Douro, inclusivamente, com um cais.
Este Porto tornou-se de tal forma importante, diga-se fundamental, que ficou associado ao nome do povoado onde se localizava. Assim os romanos juntaram o designativo Portus ao nome Cale e rebaptizaram a civitates de Portus Cale.
Roma começa o seu declínio e por volta de 409 d.C. os Suevos transpõem os Pirenéus e instalam-se em toda a Península, mas principalmente nas áreas de Bracara Augusta, Portus Cale, Lugo e Astorga. Bracara Augusta, antiga capital romana da Gallaecia tornou-se tal-qualmente a capital da Diarquia Sueva. Depois foi a vez dos Visigodos que acabariam por conquistar o reino suevo em 584 d.C.
Originariamente Portus Cale, toda a região em volta da civitates passou depois a ser designada pela Monarquia Visigótica como Portucale, pois o latim vulgar variava de acordo com a origem geográfica. A denominação Portucale aparece pela primeira vez, no fim do século V, na Crónica de Idácio de Chaves.
E eis que vieram os Mouros e a parte sul de Portucale foi conquistada em 711.
Em 868, o galaico Vimara Peres, vassalo do Rei de Leão, Galiza e Astúrias reconquista a região entre Douro e Minho, incluindo Portucale, e funda o primeiro Condado de Portucale, assim designado para o diferenciar do restante território.
A presúria de Vimara Peres prosperou e Portucale foi governado pelos seus descendentes, até à derrota de Nuno II Mendes pelo rei Garcia II da Galiza na Batalha de Pedroso, em 1071.
Falecido Garcia II, em 1091, o Rei Afonso VI de Leão e Castela retoma a unidade dos Estados Paternos. Porém, intensificaram-se as acometidas dos Almorávidas o que precipitou a distribuição dos poderes militares e por esta altura os territórios passaram para a administração de Raimundo de Borgonha casado com D. Urraca, filha do Rei de Leão. Entregue ao Conde Raimundo, este, não conseguiu defender eficazmente a linha do Tejo - tendo perdido Lisboa que fora cedida aos Reis de Leão pelo califa de Badajoz. Assim Afonso VI decide fortalecer ainda mais a defesa militar ocidental, dividindo em duas a zona atribuída inicialmente a Raimundo, entregando a mais exposta ao recém-chegado D. Henrique de Borgonha.
Dom Henrique, pai d’El-Rei Dom Afonso I Henriques, era o 4.º filho de Henrique de Borgonha, pertencendo portanto à família ducal da Borgonha, e assim sendo bisneto de Roberto I de França e sobrinho-neto do Abade S. Hugo de Cluny, e, irmão dos também duques Odo I e Hugo I.
D. Henrique, não sendo primogénito, fez vida como cruzado, sentindo-se atraído pelas zonas de maior perigo e daqui se compreende a sua vinda para a Península Ibérica, onde a Reconquista aos mouros era mais arriscada. Portucale estava sob domínio sarraceno desde 711, e em 868, o galaico Vimara Peres, vassalo do Rei de Leão, Galiza e Astúrias reconquista a região entre Douro e Minho, incluindo Portucale, e funda o primeiro Condado de Portucale, assim designado para diferenciar do restante território.
O nosso conde D. Henrique, que casara pelos trinta anos com D. Teresa de Leão - filha de D. Afonso VI de Leão e de Ximena Nunes – já antes do seu casamento se distinguira na fronteira sul da Península, no combate aos Almorávidas. Agora casado com a Infanta Teresa, e apoiado pelos interesses políticos da Ordem de Cluny, imiscui-se estrategicamente e com ambição na política no Reino de Leão e Castela, conquistando a sua pretensão poder junto da Corte leonesa.
A fim de aumentar a população, valorizar o seu território e consolidar a sua autoridade, D. Henrique deu foral e fundou novas povoações, entre elas a vila de Guimarães, onde fixou a sua habitação, num Paço, dentro do Castelo que ali fora edificado no século anterior, atraindo para ali, com várias regalias, muitos dos seus compatriotas francos. Vimaranes resultou de uma presúria de Vimara Peres e significa Quinta de Vimara (Peres) - ou seja era uma povoação, mas privada. Só com o Conde D. Henrique se tornou efectivamente uma Vila, pois o Conde atribuiu-lhe foral e, facto importantíssimo, para ser considerado "O Berço da Nacionalidade" foi aí ter sido estabelecido o centro administrativo do Condado Portucalense. Em 1095 era, também, já Senhor de Braga, ou seja, D. Henrique e sua mulher tinham a tenência dos territórios que abrangiam, Guimarães, Braga, Porto, Coimbra e Santarém. A 9 de Dezembro de 1097, em Compostela, D. Henrique intitula-se ‘Comes Portucalensis – Conde de Portucale’.
Com a morte de Afonso VI, D. Henrique age como Soberano de uma potência e território independentes.
Continuou a ilustrar-se pelas armas, e, em 1100, batalha com os mouros Almorávidas, em Malagón.
Em Setembro de 1104 estabelece com D. Raimundo um Pacto Sucessório em que reconhece este último como único herdeiro de Afonso VI e se prometem mutuamente amizade e assistência. Como contrapartida deste acordo, Raimundo promete a D. Henrique a cidade de Toledo, com parte do seu tesouro, ou, em alternativa, a Galiza. Neste pacto não há qualquer referência a Portucale. Em 13 de Setembro de 1107 morre Raimundo e no ano seguinte o infante D. Sancho que lhe deveria suceder. Em Portucale, D. Henrique continua a sua senda conquistadora, submetendo os mouros em Sintra.
Na cidade de Coimbra doa à diocese o Mosteiro de Lorvão usando o mesmo formulário de chancelaria que 15 anos antes fora usado pelo herdeiro do trono em acto análogo, o que evidencia, que a partir daquele momento começou a agir como Soberano de uma potência independente. D. Henrique tomou partido contrário a D. Urraca como herdeira de Afonso VI e, em 1110, na batalha de Campo de la Espina, vence as tropas de D. Urraca; em Novembro do mesmo ano dá-se a conferência de Monzón entre D. Henrique e D. Urraca; em Novembro do mesmo ano D. Henrique cerca D. Afonso I em Peñafiel. Este cerco foi desfeito pela intervenção de D. Teresa que convence o marido a retirar o apoio a D. Urraca enquanto esta não definir claramente os termos da aliança. Em Fevereiro ou Março de 1111, D. Henrique cerca D. Urraca, que entretanto fizera as pazes com o Rei de Aragão. Na Primavera deste ano o perigo espreita em Portucale perante a ameaça almorávida sobre o Tejo. No inverno deste último ano D. Henrique dominou territórios dependentes quer de D. Urraca quer de Afonso I, tais como Zamora, Astorga e Oca. Em 1112 faz a Paz com D. Urraca que, por sua vez, também a fizera com o filho.
Inesperadamente, D. Henrique falece, em Astorga, nos últimos dias (entre 24 e 29) de Abril de 1112, sem ver concretizada a aspiração de transformar o Condado Portucalense em Reino independente. Por sua determinação foi sepultado na Sé Catedral de Braga, e, durante a menoridade do seu filho o Infante Dom Afonso Henriques, a governação do Condado passou para a viúva Dona Teresa.
Em 1121, esta, auto intitula-se «Rainha», mas os conflitos com o Clero e a sua relação com o fidalgo galego Fernão Peres, a quem entregara o governo dos distritos do Porto e Coimbra, originou a insurreição dos Portucalenses e do próprio filho o Infante D. Afonso Henriques, invariavelmente afastados, por forasteiros, da gestão dos negócios públicos. O seguinte, já seria Portugal.
Miguel Villas-Boas | Plataforma de Cidadania Monárquica
Subscrever:
Mensagens (Atom)